CINELIMITE x ANOTHER SCREEN
APRESENTAM
SEIS VEZES MULHER
À SOMBRA DA DITADURA
Programado por
Another Screen (Daniella Shreir) & Cinelimite (William Plotnick, Matheus Pestana)
Contribuidoras
Hanna Esperança, Patrícia Mourão de Andrade, Mariana Queen Nwabasili, Lorenna Rocha, Andrea Ormond, Laura Batitucci
Pesquisa realizada por William Plotnick and Matheus Pestana
Web design por Daniella Shreir
Traduções e vídeos por Glênis Cardoso
Com o apoio do Cinema do IMS
Kleber Mendonça Filho, Marcia Vaz, Thiago Gallego, Lucas Gonçalves de Souza
Agradecimentos especiais:
Ao Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, ao Museu da Imagem e do Som de São Paulo, a Susana Fuentes, Cida Aidar, Lorenna Montenegro e David Meyer
Queremos prestar homenagem à brilhante Bérénice Reynaud (1951–2023), a pedido da qual este programa foi exibido pela primeira vez, no REDCAT, em Los Angeles, algumas semanas após o seu falecimento.
Nosso objetivo é tornar nossa programação o mais acessível possível, através da legendagem em várias línguas, e mantendo o acesso gratuito. Mas a distribuição, legendagem, redação e tradução custam dinheiro. Não recebemos nenhum financiamento, portanto, por favor, considere fazer uma doação para que possamos manter este projeto disponível a todos. Temos um Patreon para apoiadores regulares, ou você pode fazer uma doação única aqui.
Uma nota sobre o programa
Introdução por Hanna Esperança
I.
A Entrevista (The Interview)
dir. Helena Solberg, 1966
- Entrevista com Helena Solberg por Andrea Ormond
- Entrevista filmada com Helena Solberg
II.
Preparação 1 (Preparation 1)
dir. Letícia Parente, 1975
In
dir. Letícia Parente, 1975
Tarefa I (Assignment I)
dir. Letícia Parente, 1982
- Sobre Letícia Parente, por Patrícia Mourão de Andrade
- Entrevista filmada com André Parente
III.
Ana
dir. Regina Chamlian, 1982
- Entrevista com Regina Chamlian e Cristina Amaral por Mariana Queen Nwabasili
IV.
Histerias
dir. Inês Castilho, 1983
- Fotos tiradas no set de Histerias
- Entrevista com Inês Castilho por Laura Batitucci
V.
Duas Vezes Mulher (Two Times A Woman)
dir. Eunice Gutman, 1985
- Entrevista com Eunice Gutman por Lorenna Rocha
- Entrevista filmada com Eunice Gutman
V.
Meninas de um outro tempo (Girls From Another Era)
dir. Maria Inês Villares, 1985
- Entrevista filmada com Maria Inês Villares
Quem é preservado: mulheres, acesso e o passado, presente e futuro da preservação cinematográfica no Brasil, com Marina Cavalcanti Tedesco, Natália de Castro e Débora Butruce
Uma nota sobre o programa
A ideia de Seis Vezes Mulher tomou forma em 2022, quando a Cinelimite concluiu um novo escaneamento em 2K de A Entrevista (1966), filme de estreia de Helena Solberg e um marco do cinema feminista brasileiro. O filme contrapõe uma trilha sonora de depoimentos de mulheres da alta classe média carioca sobre virgindade, casamento, sexo, trabalho e os papéis a elas atribuídos a imagens de uma noiva se preparando para o casamento.
Antes de 2022, A Entrevista circulava apenas em uma transferência de vídeo de baixa resolução, que de modo algum valorizava a bela fotografia em 16 mm de Mário Carneiro. O novo master digital foi criado a partir de uma cópia 16 mm preservada no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, e escaneada em 2K em Nova York. Esse longo caminho do arquivo à tela reflete um problema estrutural no Brasil, em que a prioridade de preservação e acesso tem sido frequentemente concedida a filmes dirigidos por homens, deixando as obras de mulheres à margem e mal preservadas.
Ainda assim, o objetivo da Cinelimite nunca foi parar na digitalização. Alguns anos antes, havíamos preparado as primeiras legendas em inglês para A Entrevista, apresentadas aqui em versão revista. Nossa missão é avançar da preservação ao acesso, colocando obras restauradas em diálogo entre si e com novos públicos internacionais.
Desse impulso nasceu uma inquietação curatorial. O filme de Solberg abriu caminhos em meados dos anos 1960 ao confrontar, e também questionar de forma implícita, as vozes das mulheres burguesas. O que veio depois? Nas duas décadas seguintes, que abrangem o período da ditadura, quais cineastas retomaram suas questões, as ampliaram ou as contestaram? Seguiu-se um longo período de pesquisa sobre a produção documental e experimental realizada por mulheres no período, uma área em que a pesquisa continua difícil porque muitos filmes ainda não têm cópias acessíveis. Por isso fizemos questão de ouvir preservadoras e arquivistas brasileiras de cinema, cuja mesa redonda iluminadora pode ser lida abaixo.
Os oito filmes deste programa investigam questões relacionadas à saúde mental, raça, envelhecimento, padrões de beleza, classe e a pressão das normas sociais vigentes no clima da ditadura. Essas seis cineastas levantam questões sobre voz, trabalho e corpo e revelam pequenos espaços de resistência e reinvenção.
O título do programa faz referência à antologia Cinco Vezes Favela, de 1962, cinco curtas sobre a vida nas favelas do Rio produzidos pelo Centro Popular de Cultura, CPC, da União Nacional dos Estudantes. Frequentemente tratada como obra formativa do Cinema Novo, a coletânea foi dirigida por homens. Como o filme A Entrevista, de Solberg, é frequentemente discutido em relação ao Cinema Novo, é possível ouvir o que ela diz sobre isso em nossa entrevista filmada com ela, nosso título propõe um questionamento delicado dessa história ao imaginar um mundo em que seis diretoras realizam filmes em diálogo entre si.
Para Seis Vezes Mulher, a Cinelimite escaneou Histerias 1983, de Inês Castilho, e Meninas de um outro tempo 1987, de Maria Inês Villares, em 2K, e Duas Vezes Mulher 1985, de Eunice Gutman, em 4K. Talvez você se lembre dos trabalhos de Castilho e Gutman do nosso primeiro programa Cinelimite x Another Gaze, Mulheres: Uma outra história. Agradecemos a confiança dessas cineastas ao apresentarmos essas obras ao público em suas novas versões digitais pela primeira vez. As obras de Letícia Parente foram gentilmente compartilhadas conosco por André Parente, que vem trabalhando para preservar e difundir seu legado artístico. Abaixo é possível assistir a uma entrevista em vídeo mais longa com ele. Ana 1982, de Regina Chamlian, é apresentada em qualidade SD, disponibilizada graças ao trabalho do Museu da Imagem e do Som de São Paulo.
Introdução ao programa
por Hanna Esperança
A narradora de Água Viva (1973), de Clarice Lispector, não tem nome. É uma pintora esquiva que está usando uma ferramenta nova — a linguagem — em um meio que também lhe é novo: a escrita. Ao experimentar essa nova forma, ela tenta dar sentido à própria existência no mundo e acaba tomada por ideias sobre a vida, a morte e a passagem escorregadia do tempo. Confessional, onírico e às vezes epistolar, Água Viva é um fluxo de consciência intricado e minucioso que brinca o tempo todo com as palavras e seus significados. Não é coincidência que liberdade seja uma das palavras que mais aparecem no livro.
A narradora de Lispector experimenta a linguagem, libertando-se das convenções, e uma transgressão formal semelhante pode ser percebida em Histerias (1983), de Inês Castilho, documentário experimental que confronta as violências institucionais, domésticas e psicológicas infligidas às mulheres. Ao longo do filme, Castilho destrói a noção de feminilidade como sinônimo de obediência e submissão — e, no outro extremo do espectro, a noção de heroína, de quem se espera que suporte tudo. Em uma cena, uma mulher chora alto por ter sido traída; em outra, uma mulher admite que não consegue ficar em casa por mais de um dia; mulheres na rua falam em buscar “amor livre”, enquanto outras lamentam não serem amadas o suficiente. Até a mãe — figura central do filme, que, no início, surge de repente fantasiada de Mulher-Maravilha enquanto os filhos brigam — fica furiosa porque o companheiro não mira ao urinar. Entretecida a essa sequência está a “dança da possessão”, nome que Castilho dá a uma performance hipnótica em que a intérprete Juliana Carneiro da Cunha encarna uma gama de emoções extremas — raiva, inquietação, devoção, rejeição, medo, histeria. Ao final do filme, ela desaba no chão como se estivesse morta. Esse momento é acompanhado pela voz de uma mulher lendo Água Viva: “Minha verdade assustada é que eu sempre fui só tua e não sabia. Agora eu sei: estou só. Eu e a minha liberdade que não sei usar.” Ao evocar as palavras de Clarice, lembro-me de outra passagem do livro, em que a morte simboliza o renascimento: “Terei de morrer para nascer de novo? Aceito.”
A linguagem cinematográfica inovadora de A Entrevista (1966), de Helena Solberg, e Preparação I (1975), de Letícia Parente, também constitui um desafio às representações convencionais da feminilidade. Solberg recorre ao som assíncrono, recurso que ganharia força entre cineastas feministas nos anos seguintes, particularmente no campo do documentário. Enquanto vemos uma jovem preparar-se sem pressa para o dia do casamento — tomando sol na praia e depois fazendo maquiagem e cabelo —, a narração em off compõe um quadro menos tranquilo. Composta por entrevistas, a trilha de vozes reúne jovens burguesas que refletem sobre amor, sexo e casamento, num momento em que esse tipo de conversa era considerado tabu. Há uma falta de coerência nas opiniões dessas mulheres, acentuada pela montagem de som, em que as reflexões são interrompidas no meio do pensamento. Essa disjunção culmina numa sequência final composta por fotografias de mulheres que participam da Marcha da Família com Deus pela Liberdade em 1964, estabelecendo um elo entre esse evento e o golpe de Estado subsequente — entre a feminilidade burguesa e o autoritarismo. [1]
O vídeo de Parente consiste unicamente em um plano de três minutos de uma mulher e de seu reflexo no espelho do banheiro. O que a princípio se assemelha a uma rotina de maquiagem transforma-se em uma série perturbadora de ações: ela cola um pedaço de fita adesiva sobre a boca e passa batom sobre a superfície. Em seguida, passa fita em um dos olhos, desenha sobre a fita um olho grande, de traço cartunesco, e repete o procedimento do outro lado, acabando por se vendar. Esse processo conciso e, ainda assim, insólito é típico dos vídeos pioneiros de Parente, exibidos sobretudo em contextos de galeria e museu.
Um desafio aos ideais de feminilidade também está presente em Ana (1982), de Regina Chamlian, Duas Vezes Mulher (1985), de Eunice Gutman, e Meninas de Um Outro Tempo (1986), de Maria Inês Villares. Esses filmes se distanciam de A Entrevista ao explorar realidades externas aos contextos sociais das próprias realizadoras. Enquanto Solberg, uma mulher de classe média alta, entrevistava suas pares para compreender a política de seu próprio mundo, Chamlian, Gutman e Villares voltam-se para a vida de mulheres marginalizadas — invisibilizadas pela sociedade e pela mídia hegemônica e excluídas dos espaços urbanos dominantes. No filme de Gutman, isso se manifesta na marginalidade geográfica das favelas; no de Villares, no isolamento social do lar de idosos.
Em Ana, Regina Chamlian, cineasta branca, constrói um retrato íntimo da artista negra primitivista e autodidata Ana Moysés em seu ateliê e em sua casa em Embu das Artes, cidade do estado de São Paulo que, nos anos 1960, funcionou como ponto de encontro de artistas e onde Moysés viveu a maior parte da vida. Por meio de uma combinação de primeiros planos, retratos filmados de Moysés, entrevistas e uma trilha sonora diversa — que vai de Tom Jobim a Bob Marley —, o filme investiga a visão de mundo da artista em vez de traçar a trajetória de sua vida artística, como é mais comum nesses retratos documentais. Em uma conversa tomando café, cineasta e personagem dividem o enquadramento e falam casualmente sobre amor e morte. Como afirma Chamlian em entrevista a Mariana Queen Nwabasili realizada para este programa: “havia o desejo de encontrar um terreno comum não apenas entre Ana e eu, como cineasta branca, mas também entre Ana e qualquer pessoa que visse o filme, independentemente de sua raça”. Essa pluralidade de perspectivas também existe fora de campo: Chamlian credita à diretora de fotografia negra Cristina Amaral a condição de outra autora de Ana. [2]
Em Duas Vezes Mulher, Eunice Gutman, outra cineasta branca, explora a vida de duas mulheres negras. Moradoras da favela do Vidigal, no Rio de Janeiro, Jovina e Marlene refletem sobre os desafios de migrar do interior para a cidade e construir suas próprias casas — tanto literal quanto simbolicamente — em um lugar novo, enquanto navegam aspectos de suas vidas pessoais e políticas. A câmera enfatiza a profunda ligação delas com o ambiente pelo qual lutaram incansavelmente, valendo-se de planos com câmera na mão que serpenteiam pelas vielas estreitas, captando o cotidiano e o clima da comunidade. Gutman se imerge e se engaja com uma realidade distinta da sua, mas ainda conectada à sua história pessoal, já que sua mãe, como Jovina e Marlene, migrou do Nordeste. Em entrevista a Lorenna Rocha, Gutman observa que sua mãe veio de Pernambuco e seu pai, da Polônia, e reflete sobre seu processo de criação cinematográfica como um caminho de autoconhecimento: “O Brasil é um país feito de pessoas que vieram de outras partes do mundo, por vontade própria ou à força. Então, de certo modo, essa é uma história que está dentro de nós.”
Villares, então na casa dos trinta, entrevista cinco mulheres idosas em Meninas. Entre as entrevistadas está sua própria mãe — fato que ela só revela ao final do filme. Essa revelação se desdobra em dois planos: primeiro, uma amiga de Villares, espécie de substituta da cineasta, lança um olhar afetuoso para além da câmera; em seguida, vemos o rosto da mãe de Villares. Na narração em off, Villares confessa: “Mãe, tenho medo desse silêncio, desse sentimento de que as coisas são muito antigas há séculos.” O foco do filme se desloca, tornando-se pessoal, em vez de uma visão mais neutra sobre o envelhecimento. Ao fazer o filme, Villares tenta atravessar um hiato geracional entre ela e a mãe, criando proximidade onde antes havia distância. Embora muito mais convencionais na forma, essas três obras desafiam a tradição a seu modo, ao apresentar uma visão mais plural da condição feminina. O espaço entre realizadora e personagem torna-se o ponto de convergência de onde cada filme se desdobra, produzindo um encontro de realidades que amplia nossa compreensão da experiência feminina brasileira.
Abrangendo mais de duas décadas, os filmes deste programa emergem de um período tumultuado da história brasileira, marcado pela convulsão social e política de uma brutal ditadura militar (1964–1985). Contra a repressão, o feminismo começou a se espalhar por espaços políticos e educacionais — associações de bairro, sindicatos de trabalhadores, universidades e partidos de oposição — nos anos 1970. Nos anos 1980, à medida que a redemocratização se tornava uma meta mais tangível, as mulheres passaram a participar ativamente da elaboração de uma nova constituição nacional, que consagrou a inclusão de direitos das mulheres. Em paralelo a essa transformação social, o cinema brasileiro registrou um aumento notável de mulheres cineastas, particularmente — como também ocorreu internacionalmente — nos domínios do documentário e do curta-metragem.
Todos os filmes encarnam as complexidades de um período marcado por contradições profundas, em que a arte e o cinema foram moldados por estruturas opressivas e essas estruturas foram desafiadas pela subversão de estratégias formais e narrativas. Em A Entrevista — realizado poucos meses após o golpe de Estado e antes da instituição do AI-5 —, a ditadura militar aparece como uma realidade histórica e política a ser discutida em relação direta ao conservadorismo patriarcal.[3] Já em Preparação I e Histerias, realizados posteriormente, ela se faz implícita na violência dos gestos e na montagem disruptiva. Apesar das diferenças formais, esses três filmes retratam mulheres presas entre quem são — ou desejam ser — e as expectativas sociais sobre como devem ser e como se apresentar. Nesse processo, a mulher idealizada, santificada, é desmistificada — quando não exorcizada.
Em Ana, Duas Vezes Mulher e Meninas, ao contrário, estabelece-se um diálogo com a reestruturação social no momento da redemocratização. Após anos de censura, as vozes encarnadas e a continuidade narrativa ganham novo significado. Nesses filmes, o objetivo primordial é amplificar as vozes de mulheres marginalizadas que carregam um duplo fardo — não apenas enquanto mulheres, mas também enquanto mulheres pobres, negras e/ou idosas. A violência não é mero subtexto, mas se expõe nas histórias pessoais dessas mulheres, captada nos primeiros planos de seus rostos ou ouvida na crueza de suas falas.
Em todos os filmes, há solidão — não como consequência de um individualismo amargo, mas como uma solidão coletiva que perdurou por mais de vinte anos e persiste até hoje. A solidão é fruto das pesadas expectativas impostas às mulheres, numa sociedade em que a sexualidade feminina é constantemente negligenciada. Se essas expectativas são atendidas — seja no casamento, na maternidade ou na sexualidade, como se vê em muitas das mulheres de A Entrevista —, a solidão permanece, porque não há outra perspectiva para além dos papéis que são obrigadas a desempenhar. Se essas expectativas não são cumpridas — se as mulheres ousam envelhecer, como as meninas de Meninas De Um Outro Tempo, ou se divorciar ou permanecer solteiras, como Marlene em Duas Vezes Mulher ou Ana Moysés em Ana —, correm, novamente, o risco do isolamento social.
Volto a lembrar das palavras de Lispector, ecoadas em Histerias: “Estou só. Eu e a minha liberdade que não sei usar.” E ela continua: “Grande responsabilidade da solidão. Quem não está perdido não conhece a liberdade e não a ama.” Mais de quatro décadas depois, ainda estamos aprendendo a amá-la. A pergunta é: quem vai nos ensinar? Talvez os filmes de Seis Vezes Mulher ofereçam o começo de uma resposta. Embora as mulheres que vemos na tela estejam sós em suas particularidades cotidianas, os filmes têm o poder de conectá-las — não apenas em sua própria diegese, tecendo pontes entre depoimentos, vozes, rostos e contextos —, mas também com um público que, hoje, as assiste e as recorda. Villares, em Meninas, tinha razão: “uma enorme jornada para chegar até você, para chegar até todos nós.”
[1] A Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi um movimento religioso e político em 1964. Organizado por grupos conservadores e mobilizado pela Igreja Católica, o movimento se opunha ao governo do Brasil e às reformas progressistas do presidente João Goulart. Seus apoiadores exigiam intervenção militar, apresentando-a como a única maneira de salvar os valores da família cristã e derrotar o comunismo. Mulheres das camadas altas da sociedade, fortemente influenciadas pela Igreja Católica, formaram a parcela mais significativa de seus simpatizantes. A Marcha, uma manifestação pública que reuniu aproximadamente cinco mil pessoas, tornou-se um símbolo de legitimação do golpe de Estado na sociedade civil.
[2] Cristina Amaral é uma montadora brasileira ativa e prolífica que iniciou sua carreira na década de 1980. Como montadora, trabalhou em mais de 40 filmes, como Ôrí (1989), de Raquel Gerber, Alma Corsária (1993), de Carlos Reichenbach, Serras da Desordem (2006) e Já Visto, Jamais Visto (2013), ambos de Andrea Tonacci. Seu trabalho mais recente de montagem foi em Curtas Jornadas Noite Adentro (2019), de Thiago B. Mendonça.
[3] O Ato Institucional nº 5 (AI-5) foi decretado em 1968 pelo governo militar durante a ditadura no Brasil. O ato, que incluiu a suspensão de direitos e garantias individuais previstos na Constituição, abriu caminho para a tortura, o assassinato e o desaparecimento de civis pelo Estado.
Hanna Esperança é doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Meios e Processos Audiovisuais da Universidade de São Paulo (ECA/USP). É pesquisadora com foco em cinema realizado por mulheres e documentário brasileiro. Na USP, desenvolve a pesquisa “O cinema de Olga Futemma: trajetória de uma experiência entre culturas”, financiada pela FAPESP e orientada pela Profa. Dra. Esther Hamburger. Em 2024, atuou como pesquisadora visitante na University of Southern California (USC) sob a supervisão do Prof. Dr. Michael Renov, com Bolsa Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE).

A ENTREVISTA
dir. Helena Solberg
1966, 20 mins
16mm para 2K. Preto e branco
A Entrevista foi realizado em 1964, ano em que o presidente João Goulart foi deposto por um golpe de Estado, marcando o início da ditadura militar que duraria 21 anos. O filme é composto por fragmentos de entrevistas conduzidas por Solberg com jovens mulheres da mesma classe média alta a que ela pertencia. Seguras de que não apareceriam em cena, essas mulheres falam com franqueza sobre sexo antes do casamento, ensino superior e política. A trilha sonora desconstrói a imagem: uma mulher desfrutando de sua independência antes de ser preparada para o dia do casamento.
O filme causou grande repercussão quando estreou dois anos depois, embora não sem controvérsias. Seu epílogo — composto por fotografias de mulheres da burguesia participando de uma série de marchas reacionárias, refletindo o sentimento de subjugação e cumplicidade feminina — foi criticado até mesmo por alguns dos pares e apoiadores de Solberg.
Digitalizado em 2K pela Iniciativa de Digitalização de Filmes Brasileiros (IDFB), da Cinelimite.
Helena Solberg (n. 1938) é cineasta, produtora e roteirista. Natural do Rio de Janeiro, passou a maior parte da vida nos Estados Unidos, onde realizou documentários para a televisão. No Brasil, dirigiu os curtas A Entrevista (1966) e Meio-dia (1969). Sua filmografia, composta por dezoito obras entre documentários e ficções, é marcada por uma forte militância política e feminista. Seu último filme, o longa-metragem Meu corpo, minha vida, foi lançado em 2017.
Nosso objetivo é tornar nossa programação o mais acessível possível, através da legendagem em várias línguas, e mantendo o acesso gratuito. Mas a distribuição, legendagem, redação e tradução custam dinheiro. Não recebemos nenhum financiamento, portanto, por favor, considere fazer uma doação para que possamos manter este projeto disponível a todos. Temos um Patreon para apoiadores regulares, ou você pode fazer uma doação única aqui.

Entrevista com Helena Solberg
por Andrea Ormond
Andrea Ormond: Você trabalhou como jornalista em O Metropolitano, o jornal estudantil da PUC-Rio, e mais tarde na revista Manchete, onde entrevistou figuras como Clarice Lispector. Você vê diferenças entre a Helena Solberg entrevistadora e a Helena Solberg entrevistada?
Helena Solberg: Minha experiência de muitos anos com o documentário me deixou muito consciente do poder e do efeito da câmera na entrevista filmada. A possibilidade de manipulação é absurda. A presença dela é sempre perturbadora para o entrevistado. Sei exatamente o momento em que o entrevistado esquece a sua presença, e é uma vitória para o entrevistador. A entrevista por escrito permite a reflexão e a possibilidade de se construir como personagem. As duas são reveladoras de aspectos diferentes. Prefiro estar longe da câmera.
AO: Seu curta-metragem de estreia, A Entrevista (1966), abre com uma série de sons que evocam a infância da sua geração. Entre eles, há uma gargalhada de bruxa, daquelas que despertavam medo nos contos de fadas daquela época. Para realizar A Entrevista, imagino que você tenha precisado vencer algum espírito, interno ou externo…
HS: Eu amo a bruxa! Ela diz que vai deixar as outras fadas fazerem suas profecias e só então fará a dela, e em seguida solta uma gargalhada sinistra. Milhares de mulheres, acusadas de bruxaria, foram queimadas na fogueira. Elas ameaçavam o sistema porque eram sábias, curandeiras e figuras de poder em suas comunidades. Eram vistas como usurpando o poder masculino e, por isso, tinham de ser eliminadas. A presença dela no filme foi uma provocação, um alerta de que o papel prescrito pela sociedade para as jovens não daria certo.
AO: Conte um pouco sobre a sua experiência de estudante na PUC do Rio de Janeiro, um dos berços do Cinema Novo.
HS: Foi um mundo novo. Até então eu nunca tinha compartilhado uma sala de aula com rapazes. Havia também o fato insólito de que a nossa casa, onde vivi momentos importantes da minha adolescência, ficava e ainda fica dentro do campus da PUC-Rio. Ali o passado e o futuro se encontravam, e estar naquele lugar despertava sentimentos e memórias às vezes perturbadores. Como parte da minha graduação em Línguas Neolatinas na PUC-Rio, descobri a literatura latino-americana, que até então eu não conhecia. Até então a minha formação era mais eurocêntrica. Também conheci amigas e amigos que se tornaram significativos na minha vida, entre eles Heloísa Buarque de Hollanda, Arnaldo Jabor e Cacá Diegues. Eu os reencontraria no jornal estudantil O Metropolitano, onde trabalhei como repórter.
AO: A Entrevista tem muitos depoimentos em off. Você pode explicar essa escolha?
HS: As mulheres da minha geração não tinham o hábito de conversas muito íntimas entre si. Havia uma certa autocensura em torno de assuntos considerados tabu. Achei que poderia derrubar essa barreira fazendo um filme em que as identidades não seriam reveladas. Eu precisava buscar respostas para muitas questões que ainda eram tabu entre nós, e essa foi uma tática. Como não queriam ser filmadas, concebi a sequência da noiva sendo preparada para o casamento, uma cena desconstruída pelas entrevistas sobrepostas. Isso foi uma salvação, porque caso contrário eu teria acabado com uma série de talking heads. O filme exigiu uma solução criativa, e acho que ficou ainda mais enriquecido por isso.
AO: Você viveu do fim dos anos 60 ao início dos anos 2000 fora do Brasil. Como a sociedade e o cinema estrangeiros mudaram a sua pulsão criativa? Ou não mudaram?
HS: Na verdade, vivi dois anos fora, de 60 a 62. Depois fiquei trinta anos fora, de 70 a 2000. Não sei se [mudaram] a “pulsão criativa”, mas certamente [ofereceram] mais mecanismos de produção, mais recursos, mais fundações progressistas. Para quem estava saindo do Brasil logo após o Ato Institucional nº 5, foi uma sensação de liberdade. O movimento feminista fervilhava no momento e os protestos contra a guerra do Vietnã eram impressionantes. Havia um clima libertário provocado pela onda hippie, além de tudo. Havia muitos brasileiros no exílio. Olhar seu país de fora, com distanciamento, foi uma experiência essencial.
AO: Além de A Entrevista, Bananas Is My Business e Vida de Menina, vários de seus filmes colocam protagonistas femininas no centro de um momento histórico bem delimitado. Meu Corpo, Minha Vida (2017), documentário sobre o aborto no Brasil centrado no caso de 2014 de Jandira dos Santos Cruz, é um deles. Que ponte você enxerga entre essas mulheres, da sua irmã Glória Solberg em A Entrevista à Jandira dos Santos Cruz em Meu Corpo, Minha Vida?
HS: Essa “ponte” a que você se refere está sendo contestada e analisada pelo movimento feminista agora. O feminismo negro está se fortalecendo e nos obrigando a entender nossas reivindicações com um outro olhar. A questão do lugar de fala é, no momento, a pauta mais discutida e contestada, e que - esperamos - vai nos ajudar a caminharmos juntas.
Andrea Ormond é escritora, pesquisadora, curadora e crítica de arte. Autora da trilogia de livros Ensaios de cinema brasileiro – Dos filmes silenciosos ao século XXI (2024) e de Walter Hugo Khouri, O Ensaio Singular (2023). Mantém desde 2005 o blog Estranho Encontro, exclusivamente sobre cinema brasileiro. Colaborou na Folha de São Paulo, nas revistas Cinética, Filme Cultura, Rolling Stone, Teorema e dezenas de coletâneas e catálogos de mostras. Foi curadora do Cineclube Franco-Germânico (2018-2019), na Maison de France, no Rio de Janeiro, e da Curta Circuito - Mostra de Cinema Permanente, em Minas Gerais (2017-2022). Na ficção publicou, entre outros, o romance Longa carta para Mila (2006).
Entrevista filmada
com Helena Solberg
Com a aproximação dos 60 anos de seu filme de estreia,
A Entrevista, a lendária cineasta documental Helena Solberg relembra o processo de realização da obra, refletindo sobre suas ideias centrais e as escolhas criativas que a moldaram.
TRÊS VIDEOS DE
LETÍCIA PARENTE
Preparação 1
1975, 3 mins,
U-Matic para SD digital, Preto e branco
A rotina de maquiagem pouco convencional da artista.
In
1975, 1 min
U-Matic para SD digital, Preto e branco
A artista se pendura dentro dum guarda-roupa.
Tarefa 1
1982, 2 mins
U-Matic para SD digital, Colorido
Deitada na tábua de passar, a artista é passada pela diarista da família.
Letícia Parente (1930–1991) foi uma artista visual brasileira, mais conhecida por sua vídeo-arte de forte caráter político. Após se mudar para o Rio de Janeiro em 1971, Parente estudou técnicas de gravura no Núcleo de Artes e Criatividade, deixando temporariamente sua carreira voltada ao ensino de química. Em 1972, concluiu o mestrado em química analítica na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e em 1976 obteve o título de Livre-Docente em química inorgânica pela Universidade Federal Fluminense, equivalente a um doutorado. Publicou diversos artigos e livros na área e lecionou em instituições de ensino superior no Brasil e na Itália.
Além de vídeo-arte, Parente produziu gravuras, desenhos, pinturas, fotografias e mail art. Sua primeira exposição individual, realizada em Fortaleza em 1973, apresentou uma série de monótipos. Em meados da década de 1970, passou a se envolver com artistas, curadores e críticos como Ana Vitória Mussi, Anna Bella Geiger, Sonia Andrade, Paulo Herkenhoff e Fernando Cocchiarale, considerados pioneiros da vídeo-arte no Brasil.
Em 1975, Parente criou seus primeiros vídeos — In, Preparação I e Marca registrada — nos quais já surgiam temas que permaneceriam centrais em sua obra: o corpo e a subjetividade, bem como a condição feminina em uma cultura marcada pelo sexismo.
Nosso objetivo é tornar nossa programação o mais acessível possível, através da legendagem em várias línguas, e mantendo o acesso gratuito. Mas a distribuição, legendagem, redação e tradução custam dinheiro. Não recebemos nenhum financiamento, portanto, por favor, considere fazer uma doação para que possamos manter este projeto disponível a todos. Temos um Patreon para apoiadores regulares, ou você pode fazer uma doação única aqui.

Sobre Letícia Parente
por Patrícia Mourão de Andrade
95 minutos. Sua obra completa tem 95 minutos; 70 se considerarmos apenas o que não se perdeu – uma proporção não exatamente surpreendente para alguém trabalhando no Brasil, onde o fogo, a lata de lixo e as prateleiras esquecidas das alfândegas são um destino tão comum quanto as telas.
95 minutos, 16 filmes (dos quais 4 perdidos) em 7 anos, entre 1975 e 1982, ano em que Letícia Parente desacelera sua produção como artista, iniciada não muito antes de seus primeiros filmes, em 1971, quando ela faz suas primeiras gravuras. A razão para essa desaceleração é pouco conhecida. É possível que não diste tanto da que a fez chegar tardiamente à arte. Aos 41 anos, quando ela faz seus primeiros trabalhos, ela já era mestre em quimíca, e havia lecionado e escrito livros sobre o tema. Entre 1985 e 1985, ela fez um segundo mestrado em Filosofia da Educação e dois pós-doutorados, um em Química Inorgânica, na França, e outro em Educação Química, na Itália. Os livros que ela publicou antes de iniciar ou depois de desacelerar sua carreira artística, incluindo A Eletronegatividade e Bachelard e a Química no Ensino e na Pesquisa, constituem um legado que, quando medido em páginas, supera em centenas os minutos que ela filmou. Ela também era mãe de cinco filhos.
Nascida em Salvador, Letícia Parente e o marido viveram em Fortaleza até 1971, quando se mudaram para o Rio de Janeiro. Os dois eram próximos de artistas e frequentavam a cena intelectual de Fortaleza, mas foi só com a mudança para o Rio, para onde se mudou para fazer seu mestrado, que ela entrou em contato com uma cena artística de arte contemporânea efervescente. Entre as aulas de doutorado e os cuidados com a adaptação de uma família de sete corpos a uma nova cidade, ela frequenta ateliês, cursos de arte e grupos de estudos. É no contexto de um campo engajado na reflexão sobre o papel da arte e com a exploração de meios não tradicionais que Parente começa a produzir e a experimentar nas mais diversas mídias. Em 1975, com colegas de um grupo de estudos, ela participa do que viriam a ser as primeiras experiências de videoarte no país de que se tem notícias.
*
A história da videoarte brasileira é um tanto sui generis. Diferentemente do que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, o vídeo não foi uma tecnologia acessível no país até pelo menos os anos 1980. No início da década de 1970, ele era uma exclusividade da televisão e da polícia militar. De modo que, quando o diretor do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, Walter Zanini, recebeu uma carta de Suzanne Delehanty, uma curadora estadunidense, pedindo sugestões de nomes para integrar uma exposição de videoarte no Instituto de Arte Contemporânea da Filadélfia, ele se viu em apuros para responder. Não havia nada parecido com uma cena local de videoarte.
Sem querer se resignar à frustração, ele entrou em contato com Anna Bella Geiger, uma artista e professora do Rio de Janeiro, próxima da nova geração de artistas, perguntando-lhe se ela conhecia alguém explorando a nova mídia. Anna Bella repassou a chamada para um círculo de artistas de quem era próxima e com quem se reunia em grupos de estudos. Jom Tob Azulay, um diplomata com gosto por cinema, que acabava de voltar de um posto em Los Angeles trazendo uma câmera Sony Portapak, se dispôs a gravar as experiências do grupo – um ano depois, ele mesmo pediria seu desligamento do Itamaraty em protesto contra o regime militar e passaria a se dedicar ao cinema.
Foi assim, com a câmera e a ajuda de um ex-cônsul e futuro cineasta, numa produção altamente caseira e colaborativa, que Letícia Parente, Sonia Andrade, Anna Bella Geiger, Mirian Danowsky, Fernando Cocchiarale, Paulo Herkenhoff e Ivens Machado produziram seus primeiros vídeos e deram início à história da videoarte brasileira.
*
Durante uma semana no mês junho de 1975, Letícia produziu seus três primeiros filmes: Marca Registrada, Preparação I e In, todos filmados no seu apartamento no edifício Brasil, todos com o seu corpo, ou partes do corpo, em cena, num dispositivo (o apartamento e o corpo da artista) que irá se repetir em praticamente todos os seus vídeos dali em diante. No seu conjunto, sua obra em vídeo é uma cartografia dos espaços domésticos – banheiro, guarda roupas, área de serviço – e um catálogo de gestos próprios a tarefas desempenhadas nesses espaços – costurar, passar roupa, guardar roupa, maquiar-se –, encenados em um humor singelo e absurdo, que infiltra no que é da ordem do cuidado (com o outro e consigo) uma violência latente.
Nessa cartografia doméstica, uma operação será recorrente: tornar-se coisa entre coisas, produto a ser cuidado ou posto em circulação. Em Marca registrada, o vídeo que irá se tornar quase uma sinédoque para videoarte brasileira – não há exposição e livro sobre o tema que não seja ilustrado com um frame desse trabalho – ela costura na sola do pé, letra por letra, a frase Made in Brasil, esse certificado de origem de um produto industrializado de exportação. Em Preparação I, ela exagera o ritual de maquiagem e autocuidado, transformando o próprio rosto em uma máscara. No lugar de passar a maquiagem na pele, ela a aplica sobre tiras de esparadrapo que cola sobre o olho e sobre a boca, cegando-se e silenciando-se. Se a situação alude, como em vários vídeos feministas da época, aos clichês de feminilidade e à tirania dos ideais de beleza que transformam a mulher em uma imagem sem agência – Sois belle e tait-toi, como bem disseram outras cineastas, em outro canto do mundo –, ela não alude menos ao momento repressivo da ditadura brasileira, onde são e salvo da tortura e do exílio estava apenas quem não via nem falava o que não devia.
De suas fantasias como commodity, ela parece ter um apreço especial pela forma-roupa. Pois a configuração inaugural e final de sua vida inanimada, aquela com que inicia e encerra sua obra em vídeo, será a de uma peça de vestuário. Em In, um dos três primeiros vídeos, Letícia entra em um armário, pendura-se em um cabide, tal como se fosse um vestido, e então fecha a porta. Em Tarefa I, seu último vídeo, ela, estendida em uma mesa, se deixa passar a ferro, como se fosse uma peça de roupa, por uma outra mulher.
Ao entrar no armário em seu primeiro vídeo, Letícia aparenta fazer, ao menos de um ponto de vista diagramático, o movimento inverso ao da arte feminista de seu tempo. Enquanto esta se alimenta de passagem do privado ao público, de uma saída do armário (do corpo, dos desejos, das fúrias e insatisfações das mulheres condenadas à vida doméstica), Letícia, ao tornar-se videoartista, guarda-se, ou talvez se esconda em um armário. Não se sabe bem se se entregando a um destino de mercadoria ou ao cansaço monumental, resultado do cuidado de tantos corpos e tantas mercadorias para corpos (cinco filhos, lembremos). Talvez os dois. Portas fechadas, ela se retira da casa, do trabalho, do mundo e das obrigações domésticas, mas não como quem se liberta e recusa o papel que lhe é imputado, e sim renunciando-se a si mesma, assumindo uma passividade plena e aliviada.
Neste e em praticamente todos os vídeos da artista, existe muito pouca subjetividade em jogo. Que seja o corpo ou o rosto de Letícia em cena importa pouco; a operação essencial é o esvaziamento desse corpo de todo e qualquer traço de individualidade até que ele se torne uma configuração, uma superfície e uma máquina que encena e exagera dinâmicas domésticas com o o poder de disciplinar corpos e subjetividades. Todavia, o corpo não se liberta em uma catarse pelas performances, não sublima a asfixia da rotina, muito menos a implode; ele as esquematiza, como que ampliando e destacando uma convenção estrutural.
Em sua segunda encarnação como roupa, em Tarefa I, essa operação de abstração tem a clareza de uma cruz desenhada em um papel. Este é o único vídeo em que a artista dividirá a cena com outra mulher: uma mulher negra, cujo rosto, cortado pelo enquadramento, não vemos, assim como não vemos o de Letícia. Ambas, mulher branca, deitada, e mulher negra, de pé, formam uma cruz, dividindo a tela em quatro.
Entre todos os trabalhos de Letícia, nenhum é mais desconcertante do que este, feito com a empregada doméstica de sua casa; nenhum condensa tantas contradições da sociedade brasileira quanto este. O Brasil é o país com o maior número de empregadas domésticas do mundo. Algumas casas, e não apenas as de elite, contam com mais de uma inclusive, e não é raro que morem com os patrões, trabalhando sem horários definidos e ao sabor da rotina da família que as emprega. Repleto de resquícios escravocratas, o serviço doméstico é o nó górdio das relações sociais do país. Enquanto relações de trabalho são definidas por responsabilidades e direitos, a que se estabelece entre família e funcionária do lar assenta-se em um conjunto de não ditos sintetizados numa vaga ideia de confiança e em uma névoa de afetos tão genuínos quanto, e em consequência disso, brutais e perversos. Na dinâmica entre família empregadora e empregada, os corpos dividem os dias e o espaço, sem jamais formar comum; antes, um abismo intransponível desenha-se no não dito.
No entanto, margeando esse abismo, ou sendo margeado por ele, um fio especial conecta dona da casa e empregada. Historicamente, a ambas coube e cabe a responsabilidade do cuidado com outros corpos em um trabalho extenuante, não reconhecido e não pago. Não há, é óbvio (não deveria ser necessário dizer), qualquer simetria na forma como a exploração dos trabalhos ligados ao cuidado foi e é exercida sobre os corpos brancos e negros de mulheres. Na economia do cuidado em uma sociedade patriarcal e racista, onde não está em questão que homens dividam as tarefas e a administração doméstica com equidade, cabe quase sempre à mulher branca a lida mais direta e a supervisão das tarefas da empregada negra.
Todavia, na rotina de uma casa, a empregada talvez seja quem chegue mais perto de compreender e se compadecer com a solidão da mulher cuja entrega nunca é reconhecida por aqueles cujo bem-estar depende dessa dedicação. A tragédia disso é que o reconhecimento raramente é recíproco, e mesmo quando o é, dificilmente gera uma aliança por um novo comum; patroa e empregada continuam separadas por relações de exploração. Mais que isso: são essas mesmas relações que tornam factível que uma mulher branca, mãe de cinco filhos, possa dedicar-se à química e à arte, destacando-se em ambas as áreas. O nó é indesatável. A liberdade de uma depende da renúncia da outra.
Tudo isso está no vídeo de Letícia, sem resolução. Poucas tarefas condensam tanto esse compósito indissolúvel de cuidado, amor e violência próprio da dinâmica entre empregada e família quanto passar roupa. Passar roupa é acariciar uma superfície sabendo que seu gesto pode, à mínima mudança de ritmo ou pressão, destruí-la, deixando como lembrança daquele dano irreparável uma tatuagem em forma de triângulo. Além disso, poucos gestos carregam tanto o substrato histórico da escravidão quanto esse de um ferro próximo a um corpo: era assim, ferro quente sobre pele negra, que os escravizadores identificavam os corpos que escravizavam.
Claro que o jogo de inversão de poder e agência não é simétrico nem muito menos real. Para começar, não se deve crer que a artista deixou de ser patroa ao propor à sua funcionária que participasse de seu vídeo, sendo dirigida por ela. Tampouco que a mulher negra se sentisse inteiramente à vontade para recusar o trabalho. Naquela tarefa, apenas uma tem o poder do corte (do quadro, dos rostos, da duração), à outra continua a caber um papel específico no quadro e na casa da outra. E ainda que uma carregue o ferro e a chance de ferir, a outra sabe que isso não acontecerá, ela sabe que pode confiar no cuidado da outra.
Tudo se passa como se, na fixidez desses dois corpos algo circule ininterruptamente: cuidado, confiança, carícia e, também, poder e um terrível mal-estar. Que essa carícia abra e toque em menos de dois minutos (é essa a duração do vídeo) uma ferida incurável do pacto social brasileiro, sem qualquer pretensão de apaziguá-la, nem remendos de retórica de superação, é um feito assombroso. Não é possível saber o que levou Letícia a não dar continuidade à série pressuposta na numeração do título, mas às vezes, nos bons dias da arte, acontece de se tocar tão a fundo em um problema e em uma contradição, que a única tarefa possível dali em diante seja continuar a olhar frontalmente, por quanto tempo for necessário, para a cruz que carregamos.
Patrícia Mourão de Andrade é escritora, curadora de cinema e pesquisadora. Atualmente é pesquisadora visitante no Programa de Culturas do Cinema e da Mídia do Graduate Center da City University of New York (CUNY) e pós-doutoranda no Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), com bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). Ela é doutora em Estudos de Cinema pela Universidade de São Paulo (USP). Ministrou aulas e palestras em museus brasileiros de referência, como MASP, MAM São Paulo, Instituto Moreira Salles e Pinacoteca do Estado de São Paulo. Seus textos foram publicados em revistas e jornais como Film Quarterly, Crisis and Critique, Framework Journal, Ursula e Revista Zum. Seus próximos livros, A criança velha e O erro como aventura: Lygia Pape e o cinema, serão publicados no Brasil em 2026 pelas editoras Seja Breve e UBU.
Entrevista filmada
com André Parente
André Parente, filho da artista Letícia Parente, oferece sua perspectiva sobre a vida e a carreira da mãe, revelando como sua formação profissional em química se entrelaçou e influenciou profundamente sua obra pioneira em vídeoarte.
ANA
dir. Regina Chamlian
1982, 12 mins
16mm telecine para HD, Colorido
Um retrato íntimo e poético da artista primitivista Ana Moisés, dirigido por Regina Chamlian em colaboração com a editora Cristina Amaral. Ana é convidada a falar (ainda que de forma elíptica) sobre alguns dos maiores temas da vida: amor, morte e envelhecimento. O filme conta com uma trilha sonora eclética, que inclui samba de roda e Bob Marley.
Regina Chamlian é escritora de livros infantis e recebeu diversos prêmios por seu trabalho, entre eles Autor-Revelação e Melhor Livro Infantil da Biblioteca Monteiro Lobato, além do White Ravens Award da Biblioteca de Munique. Doutora em Literatura, formou-se em Cinema pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Dirigiu apenas um filme: Ana (1982).
Nosso objetivo é tornar nossa programação o mais acessível possível, através da legendagem em várias línguas, e mantendo o acesso gratuito. Mas a distribuição, legendagem, redação e tradução custam dinheiro. Não recebemos nenhum financiamento, portanto, por favor, considere fazer uma doação para que possamos manter este projeto disponível a todos. Temos um Patreon para apoiadores regulares, ou você pode fazer uma doação única aqui.


Entrevista com
Regina Chamlian e Cristina Amaral
por Mariana Queen Nwabasili
Por vez ignorado no âmbito da crítica cinematográfica devido ao maior prestígio dirigido ao longa, o curta-metragem foi e é o formato que mais atraiu e possibilitou intervenções artísticas e experimentações audiovisuais a diversos realizadores.
Conforme escreve o pesquisador acadêmico brasileiro de cinema Noel Carvalho dos Santos (2005), “grupos sociais excluídos das possibilidades usuais de realização audiovisual e das representações dominantes” realizaram curtas-metragens, bem como ocorreu com “vários movimentos sociais (de operários, mulheres, negros, índios, gays) para construírem seus próprios discursos”.
Um estudo atual realizado pela pesquisadora acadêmica brasileira Nayla Guerra mostra, por exemplo, que, entre os anos 1960 e 1970, 123 cineastas mulheres realizaram 224 curtas-metragens no país.
Uma vez que as pesquisas sobre os cinemas de mulheres no Brasil tiveram início recentemente—as primeiras publicações datam da primeira década dos anos 2000 —, a tendência é que, conforme mais delas sejam feitas mais mulheres cineastas e mais de seus filmes venham à tona.
Esta entrevista com as cineastas Regina Chamlian e Cristina Amaral tem o tímido objetivo de colaborar para a historicização do cinema de mulheres no Brasil, na extensão do que fez a Mostra Seis Vezes Mulher, concebida por Another Gaze e Cinelimite em parceria com o Instituto Moreira Salles, com curadoria dos pesquisadores Hanna Esperança e William Plotnick.
Regina e Cristina são roteiristas do curta-metragem Ana, de 1982, filme documental com experimentações formais que conta a história da artista plástica negra brasileira Ana Moysés. O curta fez parte da referida Mostra e tem Regina como a diretora e Cristina como fotógrafa e montadora.
Bem como outras obras da Mostra, Ana está entre os raros filmes do cinema de mulheres realizado em meio à Ditadura Militar no Brasil (1964-1985) em que cineastas brancas explicitaram um olhar interseccional com relação aos recortes de gênero que propunham, colocando nas telas, de forma mais ou menos protagonista, mulheres negras e/ou de classes sociais menos abastadas. Uma preocupação ou interesse que nos coloca diante de um aspecto incontornável da história do cinema brasileiro: a marca — e por vezes as tensões — das relações interraciais intrínsecas à realização de diferentes filmes.
Considerando, entre vários outros aspectos, as racialidades branca e negra das entrevistadas Regina Chamlian e Cristina Amaral, as perguntas desta entrevista foram organizadas a partir de três blocos, que iniciam com introduções contextualizadoras das indagações da entrevistadora.
No primeiro bloco, são feitas perguntas sobre a relação de amizade entre Regina e Cristina, sobre como essa relação se vincula à feitura de Ana e sobre as motivações para sua realização. “A trajetória de carreira é uma soma, a consequência de gestos e escolhas na vida, e o Ana é parte dessa construção. Naquele momento, mesmo que jovens e inexperientes, já tínhamos dentro de nós o rascunho do que nos tornaríamos, já estava impresso ali as nossas posturas e os nossos olhares em relação ao cinema e às questões do Brasil”, destaca Cristian Amaral nessa parte da entrevista.
No segundo bloco, são questionados quais foram os caminhos de formação de Regina e Cristina, que iniciaram estudos e carreira no Brasil da década de 1970. Já no bloco final, são feitas perguntas sobre a forma-conteúdo do filme, a partir de pequenas análises de alguns de seus trechos. “Eu queria que Ana fosse um documentário íntimo e introvertido, meio que um poema ou ensaio, e não um documentário convencional, verborrágico e investigativo de um modo invasivo ou pesadamente ideológico. Acho que o modo do Novo Cinema Alemão tratar certos filmes, que beiravam entre o documentário, o ensaio e a ficção, pode ter influenciado a linguagem do filme”, diz Regina Chamlian a certa altura. Boa leitura.
Bloco I
Quando estudamos os filmes dirigidos por cineastas mulheres durante a Ditadura Militar no Brasil (1964-1985), deparamo-nos com um número de obras e artistas bem menor do que o de homens. Considerando a direção de longas-metragens, pesquisadoras como Alcilene Cavalvante e Karla Holanda (2013) relatam a existência de 20 filmes feitos por 15 cineastas desde os primórdios do cinema brasileiro até o ano de 1979. Com relação aos curtas-metragens, pesquisas mais recentes, como a da já mencionada Nayla Guerra (2021), apontam 224 filmes realizados nas décadas de 1960 e 1970 por 123 diretoras.
A imensa maioria das diretoras de longas e curtas-metragens no período mencionado eram brancas. Sendo assim, na maioria das vezes que queriam falar sobre a realidade de mulheres em seus filmes, partiam de recortes de classe e raça específicos, não contemplando mulheres negras e/ou de classes menos abastadas.
A curadoria da Mostra Seis Vezes Mulher mobiliza justamente diretoras brancas que nas décadas de 1970 e 1980 se atentaram para questões de mulheres diversas em termos de classe e raça. Como parte da Mostra, Ana se posiciona entre esses raros filmes, ao lado dos curtas Duas vezes mulher (Eunice Gutman, 1985) e Histerias (Inês Castilho, 1983).
Aqui, vale lembrar de outros filmes da década de 1980 no Brasil que se abriram a um olhar mais diverso dentro do recorte de mulheres, como os longas-metragens Feminino Plural (Vera de Figueiredo, 1976) e Orí (Raquel Gerber, 1989), sendo que este último também teve em sua equipe (como assistente de montagem) você, Cristina Amaral.
Feita esta introdução, pergunto: Regina, como e por que você decidiu fazer um filme sobre uma personagem mulher negra artista plástica, a Ana Moysés?
Regina Chamlian: Eu me formei em cinema na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP) em 1979. Por força das circunstâncias, em 1980, acabei arrumando um trabalho que não tinha nada a ver com cinema: fui balconista na loja de departamento Mappin, em São Paulo, porque foi uma necessidade naquele momento. Um tempo depois, peguei outro emprego que também não tinha nada a ver com cinema. A Cris [Cristina Amaral] frequentava a minha casa, a gente se via sempre. Eu tinha amizade com as irmãs dela também. Um dia, ela e Joel Yamaji [também roteirista e montador de Ana] apareceram em casa me perguntando se eu não queria me juntar à equipe da produtora Foca Filmes, que era do Ulrich Bruhn. Eu fui. A Foca era um lugar pra gente tentar nossos projetos, não ganhávamos a vida ali. Então, eu fazia dupla jornada, no emprego da hora e na Foca. Quando a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo lançou um edital para o Prêmio Estímulo, todo mundo lá na produtora apresentou um projeto.
Daí, durante a graduação em cinema, teve um projeto em que eu estava envolvida que era de uma animação que satirizava a Ditadura Militar. Eu tinha a ideia, mas eu não desenhava. A Cris me disse para procurar a Helena Alexandrino, uma estudante do curso de Artes Plásticas que desenhava lindamente. A Cris convidou a gente pra participar de uma caminhada que fizemos até as escadarias do Theatro Municipal da cidade de São Paulo, num ato contra o racismo. Isso foi no dia 7 de julho de 1978, em plena Ditadura Militar, numa ação do Movimento Negro Unificado que nascia ali. Tinha um mar de gente preta e branca protestando lá, empunhando cartazes, com o coração em chamas. Participar daquilo foi muito emocionante. E, tempos depois, a Helena me apresentou a Ana Moysés. Eu estava pensando qual projeto fazer para o edital do Prêmio Estímulo, quando a Helena Alexandrino, que já tinha se tornado grande amiga minha e sabia que eu adorava as artes plásticas, me perguntou se eu não conhecia a pintora Ana Moysés, que morava e trabalhava na cidade do Embu, no interior do estado de São Paulo. A Helena tinha conhecido a Ana e ficado muito impressionada com o trabalho dela, de intensa expressividade e beleza, e me perguntou por que eu não ia conhecer a Ana? E lá fomos nós, eu e a equipe toda da produtora Foca Filmes [Cristina Amaral, Joel Yamaji, Carlos Alberto Gordon e Ulrich Bruhn]. Para mim, foi amor à primeira vista.
Ainda sobre essa relação entre mulheres cineastas brancas e personagens mulheres negras, é importante lembrar da realização do documentário “Favela: a vida na pobreza” (o título original era “O despertar de um sonho”), no Brasil da década de 1970. Feito pela alemã Christa Gottmann-Elter, em 1971, o documentário sobre a escritora negra e favelada Carolina Maria de Jesus foi proibido de passar no país por evidenciar a pobreza. O filme foi restaurado pelo IMS e exibido pela primeira vez no Brasil apenas em 2014. O perfil da personagem central desse filme me remete muito a Ana. O que você acha disso?
Regina: Desde muito pequena, com cerca de seis anos de idade, eu já era uma leitora compulsiva. Amava ler livros ilustrados, história em quadrinhos, fotonovelas, livros em geral. Nessa época, lembro que apareceu lá em casa o livro “Quarto de Despejo”, da Carolina Maria de Jesus, e alguém comentou que era um livro muito “forte”. Aquilo me chamou a atenção na mesma hora: se era “forte”, eu queria ler. Peguei o livro escondido na primeira oportunidade e o li com imenso interesse. Me apaixonei pela Carolina. Na época em que fiz Ana, isso não estava para mim muito evidente, mas havia mesmo muitas semelhanças entre a Carolina e a Ana. Ambas eram mulheres negras, que viveram na favela, que cataram papel, e que tinham um desejo imenso — e o conteúdo e o poder — de se expressar artisticamente. Hoje não tenho dúvidas de que foi isso que me motivou a querer fazer o filme.
Como foi a feitura de roteiro a seis mãos?
Regina: Quando fomos conhecer a Ana, a entrevistamos. A partir das respostas e das fotografias feitas pelo Gordon, eu escrevi um projeto e apresentamos para o Prêmio Estímulo, que o selecionou. Depois, convidei Cristina e Joel para escreverem o roteiro comigo. Eu não tinha experiência nenhuma em dirigir um filme e achei que um roteiro cuidadosamente decupado poderia ajudar na realização do filme que queria fazer. E o Joel e a Cris tinham muito mais experiência do que eu. O Joel tinha dirigido pelo menos dois filmes, a Cris já havia montado profissionalmente um longa-metragem, e os dois tinham colaborado em muitos curtas. E eles eram meus amigos, eu confiava neles, a visão de mundo deles combinava com a minha, e o modo de ver a arte também. A gente escrevia no meu apartamento, e foi muito intenso e envolvente. Eu tinha o filme visualmente na cabeça, e eles me mostravam quais caminhos a gente podia tomar. Eles foram meus anjos da guarda, me ajudaram a fazer o filme que eu sonhava. E foi feito todo assim, um processo muito harmonioso.
Cristina, por favor, conte um pouco mais o que foi sua atuação em início de carreira na Foca Filmes, ao lado da Regina, mas também de homens cineastas como Joel Yamaji, Ulrich Bruhn e Alberto Gordon. Esse foi seu primeiro trabalho em produtora? Para você, a envoltura de trabalho em uma produtora independente e pequena na década de 1980 influenciou na liberdade formal do documentário Ana e/ou em seu trabalho em outros filmes?
Cristina Amaral: Conheci a Regina no curso de cinema da ECA-USP. O Joel Yamaji, o Ulrich Bruhn e o Carlos Alberto Gordon também eram da mesma classe. Eu, a Regina e o Joel ficamos muito próximos, passávamos o dia inteiro na escola, almoçávamos juntos, íamos ao cinema juntos. Foi uma empatia muito forte. Quando terminamos o curso, foi natural continuar fazendo coisas juntos. Daí, o Ulrich tinha essa produtora, a Foca Filmes, que fazia uns filmes institucionais. Ele me pediu para convidar alguns jovens cineastas para formar um grupo de criação de projetos de curtas-metragens, sobretudo para o Prêmio Estímulo, da Secretaria de Cultura de São Paulo.
A liberdade formal do filme tem a ver com a direção da Regina e com as conversas que sempre tivemos entre nós e também com o Joel. A trajetória de carreira é uma soma, a consequência de gestos e escolhas na vida, e o Ana é parte dessa construção. Naquele momento, mesmo que jovens e inexperientes, já tínhamos dentro de nós o rascunho do que nos tornaríamos, já estava impresso ali as nossas posturas e os nossos olhares em relação ao cinema e às questões do Brasil. Tem ali o respeito à pessoa filmada e o desejo de trazer à tela a força de todas as suas superações e a beleza de seu trabalho.
Como vocês duas enxergam a união entre vocês, cineastas negra e branca, para fazerem um filme sobre uma personagem mulher negra também artista? Vocês conversavam nos bastidores de filmagem sobre isso?
Cristina: Regina e eu somos, até hoje, grandes amigas, compartilhamos uma visão de mundo que trabalha exatamente para superar apartheids. Respeito, afeto e autoestima nos regiam. Não só nos bastidores do filme, mas em outros tantos espaços da vida toda, conversamos muito sobre muitas coisas. Nunca sentimos que fosse algo de excepcional fazermos um trabalho juntas. Foi maravilhoso.
Regina: Apesar de isso ser muito intuitivo da minha parte e nem um pouco teorizado, eu tinha a consciência de que era uma cineasta branca retratando uma mulher negra. Por isso mesmo quis que a Cris fizesse a direção de fotografia e a câmera. A Cris estava cada vez mais se dirigindo para a montagem, não para a fotografia, mas eu queria o olhar de uma mulher negra ali, trabalhando junto com o meu. Os homens com quem trabalhávamos poderiam ter feito: o Gordon fez lindas fotos de cena na época e o Ulrich tinha muita experiência com câmera. Mas o olhar de uma mulher negra atrás da câmera me parecia fazer muito sentido. E, acima de tudo, a Cris era uma grande amiga. Eu disse: “Cris, quero que você faça a direção de fotografia e câmera. Tem que ser você”. Ela disse: “Tá bem, mas, então, a Katinha [Kátia Coelho, que viria a se tornar a primeira mulher a fazer a direção de fotografia de um longa-metragem comercial no Brasil, Tônica Dominante (2000), de Lina Chamie] vai ser a minha assistente”. E assim foi feito. Minha relação com Cristina era de cumplicidade entre amigas e amor pelo cinema. Então, fazer o filme foi um momento de registrar nossas ideias de igualdade racial e valorização de diferenças numa película, sem nenhum suporte verbal de nossa parte. Para nós, isso era natural, era o óbvio. A gente nunca teorizou isso. A coisa era muito direta e intuitiva; simples e espontânea, uma coisa quase adolescente: quando a gente sabe o que é certo e o que é errado, na pele. Durante as filmagens, quando escolhíamos uma posição de câmera e olhávamos pela lente o resultado da filmagem, falávamos coisas como: “que lindo isso!”, “como ela [Ana] é linda!”, “olha essa luz!”. Essas eram nossas conversas de bastidores.
Regina, a escolha por fazer aquela personagem incontornavelmente negra, pensando na força da cor nas imagens técnicas coloridas, não falar da condição racial como especificidade foi deliberada? Existia uma preocupação em perfilar Ana para além de sua racialidade e, consequentemente, encontrar um comum entre perfilada negra e cineasta/documentarista branca como mulheres?
Regina: Acho que o desafio ali era justamente falar daquela mulher para além de sua racialidade e, ao mesmo tempo, não negar isso. A negritude de Ana está não apenas na cor de pele dela que é evidente nas imagens captadas, está também na simbologia das roupas que ela usa durante todo o filme. As roupas foram escolhidas por ela e eram de uma viagem que ela tinha feito ao continente africano. Além disso, está em parte da trilha sonora, principalmente quando entram Edith Oliveira, Bob Marley e Sarah Vaughan, todos artistas negros também, que não eludiam a condição racial de Ana, penso eu. E havia, sim, o desejo de encontrar um ponto em comum não só entre Ana e eu como realizadora branca, mas também entre Ana e qualquer pessoa que visse o filme, independentemente de sua racialidade.
Bloco II
Sabe-se que cineastas mulheres brasileiras como Helena Ignez, Helena Solberg, Ana Carolina, Paula Gaitán e você mesma, Cristina Amaral, tiveram proximidade específica com diretores homens do chamado Cinema de Invenção, Cinema Marginal, e mesmo do Cinema Novo.
Helena Ignez foi atriz do primeiro filme de Glauber Rocha, o curta-metragem Pátio, de 1959, além de ter sido companheira do diretor à época. Já Paula Gaitán, além de também ter sido companheira de Glauber, foi diretora de arte do último longa-metragem feito por ele, A Idade da Terra, de 1980.
Helena Solberg foi assistente de direção de Rogério Sganzerla em A mulher de Todos (1969) e ele chegou a montar seu filme A entrevista (1966), que, aliás, também esteve na Mostra Seis Vezes Mulher. Ana Carolina também foi próxima de Sganzerla e ainda mais próxima foi Helena Ignez, que foi companheira dele de vida e sua parceira como atriz-autora em diferentes obras da Belair Filmes, produtora que ela criou junto a Sganzerla e Júlio Bressane e que, entre os poucos meses que funcionou no ano de 1970, produziu sete filmes. Você mesma, Cristina, não só montou vários filmes de Carlos Reichenbach, como também esteve próxima de Andrea Tonacci sendo sua companheira profissional e de vida.
Mais do que vincular essas mulheres cineastas a esses homens cineastas num sentido paternal e machista de legitimação, acredito que essas evidências de aproximação dizem sobre perspectivas, preferências e identificações dessas cineastas mulheres diversas, que, sintomaticamente, não são colocadas dentro de uma construção de certos movimentos cinematográficos brasileiros importantes em nossa história do cinema.
Feita esta introdução, pergunto: Como vocês observam isso de ter ocorrido um apagamento de cineastas mulheres brasileiras como possivelmente também construtoras do cinema moderno e de um cinema mais experimental de invenção entre as décadas de 1960 e 1980 — pensando em obras cinematográficas dessa época que foram realizadas por mulheres que demonstram evidente preocupação com a experimentação formal, como acredito ser o caso do filme Ana, mas também em várias outras montagens suas, Cristina, e na direção de diferentes cineastas mulheres como as mencionadas na introdução deste bloco?
Cristina: Acho que a gente tem que pensar nessa questão do ponto de vista da História. Existiu muita luta das mulheres no mundo, no tempo, para podermos existir, trabalhar, votar, termos direito ao nosso próprio corpo etc. Isso aconteceu no geral, e no cinema não foi diferente. E o cinema não comercial, de experimentação, feito por homens ou mulheres, nunca teve vida fácil. O reconhecimento veio com o tempo — todos esses filmes cresceram em importância e se tornaram fundamentais. Acho que hoje não nos cabe ficar chorando os apagamentos que aconteceram no tempo. É mais saudável pesquisar, recuperar, resgatar e trazer à tona esses trabalhos, valorizá-los. Eu saúdo essas mulheres todas, e hoje Helena Ignez e Paula Gaitán, entre outras, que seguiram fazendo os seus trabalhos de forma muito pessoal, têm um reconhecimento inclusive internacional.
Regina: Creio que isso é o retrato do Brasil. Em se tratando de um país como o nosso, tão patriarcal, machista, racista e homofóbico, não é de se estranhar. Mesmo nos ambientes culturais ditos mais progressistas, esses traços persistem. E são esses ambientes que estabelecem os cânones que você menciona. Não faz muito tempo, numa aula de pós-graduação de uma das escolas mais reconhecidas como inovadoras e afinadas com a sensibilidade contemporânea, como é o caso da ECA-USP, um professor de Artes falou em sala de aula que o feminismo em arte era coisa de norte-americanos, uma vez que, aqui, não havia “esse problema”. Não deu pra entender se “esse problema” era não haver machismo ou não haver feministas no Brasil. Mas essa é uma história que está sendo reescrita pelas jovens artistas, curadoras e pesquisadoras brasileiras, e creio que elas saberão, como já estão sabendo agora, recuperar nossas tradições de invenção e experimentação.
Quais eram os circuitos cinematográficos compostos por cineastas homens e mulheres que atraíam vocês nos anos 1970 e 1980? Acham que esses circuitos influenciaram a linguagem de Ana?
Cristina: A gente sempre é a soma de tudo que vemos, lemos, escutamos. Porém, na hora de realizar, é importante buscarmos nossa expressão própria, correr risco, acertar, errar. Eu via de tudo. Nessas décadas que você menciona, nós tínhamos vinte e poucos anos de idade e a cabeça cheia de filmes — eu via pelo menos um filme por dia naquela época —, de livros, de imagens. Nós íamos ao cinema quase todos os dias, e ainda tinha os filmes que víamos na sala de aula e os filmes que eu assistia na TV. Porém, os filmes que me afetaram mesmo foram os do Cinema de Invenção, que o professor Paulo Emilio Salles Gomes, da ECA-USP, nos apresentou em sala de aula. Então, a minha relação com um cinema de busca e experimentação formal já vinha dos filmes que esse professor exibia, filmes de Andrea Tonacci, Carlos Reichenbach, Júlio Bressane, Rogério Sganzerla, Luiz Rosemberg Filho, entre outros. Então, o Carlão [Carlos Reichenbach] e o Andrea Tonacci já ganharam meu coração muito tempo antes de eu conhecê-los pessoalmente. Eles são parte da minha vida e da minha história.
Regina: A ECA-USP era um lugar em que víamos muitos filmes, então ela mesma era um circuito cinematográfico importante para nós, pensando em cineastas homens e mulheres da época. Muitas sessões lá foram conduzidas pelo professor Paulo Emílio Salles Gomes. Víamos os filmes no anfiteatro. Depois, sempre havia discussões, comentários, troca de impressões. O Paulo Emílio organizava na ECA-USP mostras de cinema brasileiro e mostrou para nós filmes desde os primórdios do cinema nacional até o Cinema de Invenção, o Cinema Marginal. Vimos ali filmes do Ozualdo Candeias, do Rogério Sganzerla, do Andrea Tonacci, do Carlos Reichenbach, do José Mojica, do Bressane, entre muitos outros. E alguns desses realizadores foram conversar com a gente depois da projeção. Os estudantes também organizavam mostras. Lembro-me especialmente de ter visto na ECA-USP alguns filmes do chamado Novo Cinema Alemão que me impressionaram muito. Devo ter visto ali alguma coisa do Werner Herzog, do Fassbinder e do Wim Wenders também. Eu queria que Ana fosse um documentário íntimo e introvertido, meio que um poema ou ensaio, e não um documentário convencional, verborrágico e investigativo de um modo invasivo ou pesadamente ideológico. Então, acho que o modo do Novo Cinema Alemão tratar certos filmes, que beiravam entre o documentário, o ensaio e a ficção, pode ter influenciado a linguagem de Ana, sim.
Pelo visto, os filmes exibidos eram os feitos por homens né? Aliás, como foi o contato de vocês com filmes e cinemas desde a juventude para passarem a gostar de cinema e depois fazer uma graduação na área?
Cristina: Eu fui racionalizar isso, de como comecei a ter contato e a gostar de cinema, depois de anos trabalhando na área. Me lembro que na adolescência eu só assistia filmes na TV. Eu não tinha a menor noção de como um filme era realizado, então a relação era só de encantamento. Eu sempre gostei muito de ler também. Gostava de fotografia também. Acho que foi a fotografia que me levou a prestar vestibular para o curso de Cinema. E o curso de Cinema me fez passar por todas as áreas da realização de um filme. Quando eu entendi o que era a montagem, encontrei o meu ser no Cinema.
Regina: Realmente não me lembro de ter visto, antes de 1982, nenhum filme da Margarethe Von Trotta, por exemplo, que foi uma mulher cineasta importante do Novo Cinema Alemão. Só mais tarde assisti o filme dela Rosa Luxemburgo, de 1986. Mas como foi meu contato com o cinema desde a juventude? Bom, além de amar ler livros e gibis na infância, eu via muita televisão, principalmente desenhos animados, seriados e filmes. Alguns daqueles desenhos animados tinham lindas trilhas sonoras, de música erudita, percussão, jazz. Na adolescência, passei a ler contos brasileiros, russos e norte-americanos de diversos gêneros literários. Eu lia Poe, Kafka, Cortázar, Clarice Lispector, Machado de Assis, antologias de ficção científica, fantasia e terror. Um pouco mais tarde, vieram pra estante a Simone de Beauvoir, a Virginia Woolf, o Camus, o Peanuts, a Mafalda, do Quino. Na infância ainda, além dos filmes e séries da TV, ia ao cinema do bairro assistir os lançamentos, aqueles filmes que provocavam filas de virar a esquina da rua. A partir dos 15 anos de idade, em meio ao Ensino Básico da época, comecei a frequentar salas de cinema da cidade de São Paulo como o Cine Biju e o Belas Artes. Foram nesses cinemas que fui introduzida a um cinema diferente do que estava acostumada. Era toda uma filmografia do chamado cinema de arte, cinema autoral, cinema independente, principalmente de produção europeia e norte-americana. O primeiro filme de Kurosawa que assisti foi no Cine Biju, o primeiro filme de Fellini e o primeiro filme de Buñuel, no Belas Artes. Talvez eu tenha precisado falsificar a carteirinha do colégio pra poder entrar nos filmes proibidos, porque ainda não tinha 18 anos. No final do Ensino Médio, uma garota da minha turma tinha acesso permanente a entradas de cinema para quatro pessoas. Então, íamos as quatro amigas ao cinema do lado da escola praticamente todos os dias. Se o filme fosse interessante, a gente voltava lá e assistia de novo. Teve filme que vi três, quatro vezes, e fiquei conhecendo as falas, a trilha de cor. Quando chegou a hora de escolher que rumo tomar, eu estava entre fazer o curso de Letras ou o de História. Na última hora, me deu um estalo e decidi fazer Cinema.
Regina, por que você acabou fazendo só um filme, justamente o curta Ana, na carreira? Você desistiu ou se desencantou com a carreira de cineasta? Acha que teve algum atravessamento de gênero nessa decisão de não realizar mais filmes? Você seguiu na literatura, foi isso?
Regina: Sempre me entendi como escritora e cineasta. Escrevo desde menina. Publiquei o meu primeiro livro para crianças em 1980. O filme Ana foi feito em 1982. Depois de ter feito o filme, fiquei um tempo procurando trabalho como freelancer em produtoras de cinema, mas não conseguia muitos resultados. Entre um trabalho e outro, havia muitas lacunas temporais e isso era insustentável para mim. Pode ser que tenha ocorrido algum atravessamento de gênero, mas sempre fui tão distraída que deve ter me passado despercebido, de forma que voltei a procurar trabalho fixo fora da área. E continuava escrevendo, sempre escrevendo. A Cris me avisava de editais, queria que eu participasse. Eu enviava projetos, tinha ideias e não acontecia nada. Mas eu continuava escrevendo. Em algum momento, comecei a publicar livros mais frequentemente e prossegui nesse caminho até hoje.
Cristina, você tem uma longa e reconhecida carreira como montadora. Como diretora, você também dirigiu apenas um filme, o curta-metragem Abá, de 1992, codirigido por Raquel Gerber. Você não quis seguir na direção?
Cristina: Já expliquei muitas vezes: eu não sou diretora. Meu jeito de estar no mundo e no cinema é a montagem. Eu não tenho uma relação hierarquizada com o fazer do cinema. A montagem é a minha escolha e eu me sinto bem respeitada e reconhecida nesse lugar. Posso até realizar alguns filmes como diretora esporadicamente, mas eu convivi com diretores de verdade, sei que é uma responsabilidade mais profunda e mais séria, é um outro jeito de estar no mundo. O crédito como diretora de Abá foi um carinho da Raquel. O material usado nesse filme foi filmado por ela e não coube no longa-metragem Orí [filme documental experimental de 1989, com direção de Raquel Gerber e narração de Maria Beatriz Nascimento]. Como a Raquel queria fazer um filme para levar de presente ao FESPACO [Festival Pan-Africana de Cinema e Televisão de Ouagadougou, em Burkina Fasso], fizemos esse filme-oração [Abá] que eu amo. Mas, nele, não fiz nada além do que faço em meus trabalhos de montagem. Aceito e trago comigo esse carinho de Raquel, que é uma irmã que o cinema me deu. Mas toda a verdade sobre o crédito de minha direção em Abá é essa.
Bloco III
Agora, gostaria de conversar com vocês mais propriamente sobre a forma-conteúdo do filme Ana. A fotografia e a montagem do curta-metragem são instâncias que chamam muita atenção. Por vezes, os enquadramentos emulam o formato de retratos e, assim, recolocam os tipos de retratos (não) feitos de pessoas negras ao longo de nossa história. Em outras palavras, ao propor formas variadas de enquadramento-retratação da personagem protagonista mulher negra, inclusive a partir da exploração de jump cuts, Ana parece questionar e reelaborar toda uma representação fotográfica e cinematográfica de mulheres negras que veio antes e se vinculou a períodos históricos como o da escravidão colonial. Ao mesmo tempo, por vezes no filme, enquadram-se as obras de arte/quadros e o rosto da personagem em primeiríssimo plano, evidenciando a vontade e possibilidade de máxima aproximação e escuta do que aquelas imagens-vozes artísticas de personagem e obras têm a dizer à diretora interlocutora no set de filmagem e ao próprio público espectador do filme. Sendo assim, pergunto:
Como foi o processo de fotografia e montagem do filme, Cristina e Regina? Existiam anseios de enquadramento previamente estabelecidos e por quem? Existiu um roteiro de montagem pós-decupagem de imagens filmadas? Como e por que vocês pensaram o tipo de montagem fragmentada do filme?
Cristina: Faz muito tempo. O que eu tenho de memória era de muita conversa entre a Regina, o Joel e eu. Foi mesmo um processo de muita conversa, muito afeto, muita sinceridade, muita liberdade e muitas risadas (sempre). Pensamos juntos os procedimentos de enquadramento e de montagem depois. Tudo se deu muito a partir da atenção, escuta e olhar que direcionamos à personagem. O que posso dizer mais é que, às vezes, um pequeno detalhe nos induz a um caminho na montagem que não necessariamente foi planejado. É bonito se deixar levar pela vida que o material apresenta. Não me recordo qual câmera usamos. Isso, na verdade, não tem muita importância: na fotografia o essencial é o olhar.
Regina: Depois de mais de quatro décadas da realização do filme, fica difícil lembrar com exatidão todos os detalhes e a memória pode nos enganar. A bitola do filme era 35mm. Se não me engano, essa era uma exigência do edital para o qual o filme foi feito. E a Foca Filmes tinha uma câmera 35mm, não sei dizer qual -- a câmera era do Ulrich.
O desejo maior era mostrar Ana, retratá-la em toda a sua riqueza, complexidade e exuberância. Nesse sentido, nos valemos da multiplicação de imagens: aqui, ali, de frente, de perfil, rindo, séria, de corpo inteiro, no close. Os enquadramentos e movimentos de câmera para filmá-la foram estabelecidos no roteiro, ou seja, foram cenas pensadas visualmente durante a escrita do roteiro. Depois, durante as filmagens, a Cris, a Katinha e eu, com a posição de câmera estabelecida, ajustávamos, repassávamos o roteiro. Também tinha isso de a Cris sugerir alguma coisa, a Katinha sugerir alguma coisa e algo melhor surgir ali na hora também.
O que foi um “anseio muito ansioso” de minha parte foi aquela sequência de jump cuts de quando a Ana usa os vestidos que trouxe da África, com a trilha do Bob Marley. É justamente quando há a captação de várias imagens dela em poses alternadas; imagens de tamanhos diferentes, com fundos diferentes, que foram montadas como se fosse no ritmo de um batimento cardíaco, como uma pulsação. A montagem fragmentada seguia essas ideias também, de sístole e diástole, de composição feita com o ritmo da vida.
Fico muito feliz com a leitura que você faz do filme, pelo como você interpreta a Ana que conseguimos revelar e percebe nossa intenção por trás dos primeiríssimos primeiros planos. E quanto a essa questão do retrato e da História, vale dizer que o retrato que a Ana segura na mão nessa sequência de jump cuts é um retrato da mãe dela.
Outro aspecto que me chama a atenção é a trilha sonora, que passa por samba de roda, um patrimônio imaterial do Recôncavo Baiano, pelo reggae de Bob Marley e por músicas com instrumentos de cordas num sentido mais clássico talvez. Como se deu a escolha dessa trilha e como ela foi pensada para se relacionar, ou mesmo, por vezes, se distanciar da personagem, levando o filme a diferentes momentos de camadas dramáticas?
Regina: A trilha sonora foi escolhida em dois momentos principais: durante a escrita do roteiro e durante a montagem do filme. Pode-se dizer também que essa trilha consistiu basicamente dos “discos que eu tinha e adorava ouvir”, uma coisa bem caseira mesmo. Até onde me lembro, acho que não teve material de fora da minha coleção de LPs. Punha um desses discos para tocar e propunha que a gente incluísse. Isso podia ajudar a dar o tom de uma cena, de seu movimento, do ritmo. Me lembro de que depois de ter pensado na música “Emoções”, do Roberto Carlos e do Erasmo Carlos, para abrir o filme, a gente perguntou pra Ana se ela gostava daquela música. Como ela disse que sim, não houve mais dúvida. O samba de roda, cantado pela Edith Oliveira, é do disco “Araçá Azul”, do Caetano Veloso, faixa que deve ter furado de tanto que eu escutava. Nós três, a Cris, o Joel e eu, íamos ouvindo tudo e dizendo o que achávamos. E teve coisa que a gente separou para entrar no filme, e depois não entrou. A gente escolhia a trilha pensando na pessoa que estávamos indo filmar e nos temas que estavam ali se conectando, entre imagens e música. E houve o momento de testar, ou mesmo de acrescentar, as músicas depois das filmagens, na montagem. Ali era a prova dos nove, dava pra sentir se o que tínhamos imaginado funcionava na moviola ou não.
Por volta dos nove minutos de filme, você pergunta à personagem: “você tem alguma coisa a falar sobre solidão?”. Mesmo sem explicitar um recorte racial (como ocorre em todo filme), essa pergunta parece jogar com alguns marcadores sociais da personagem, como por exemplo, sua racialidade negra e sua idade. Além disso, a pergunta me remete a debates atuais como o da “solidão da mulher negra”. Após a pergunta, o quadro, que está fixo no rosto da personagem, vai abrindo em zoom out até um ponto em que o espaço ao redor da Ana se torna maior na imagem do que o preenchimento de seu próprio corpo nela. Esse dispositivo de filmagem parece reiterar uma condição de solidão de Ana no espaço/set como metáfora da solidão na vida. Percepção que se acentua pelo fato de, durante toda a cena, a personagem ficar em silêncio olhando para baixo, sem encarar a câmera e nem (responder) à pergunta. A carga dramática pelo movimento de câmera e pela resignação silenciosa da personagem é evidente: o silencio e a amplitude do espaço ao redor de Ana dizem por ela algo como “sou, estou só e possivelmente em solidão”. A forma como a cena está construída me gerou dúvidas se a pergunta foi feita a Ana na própria cena, deflagrando, de fato, o silêncio da personagem frente ao questionamento, ou se tudo não passou de um recurso de roteiro e montagem, o que, deflagraria, então, uma percepção/leitura da direção frente ao contato com a personagem. Você poderia explicar como foi a construção dessa cena no filme e como você enxerga a cena enquanto resultado em um filme sobre uma personagem mulher negra artista brasileira?
Regina: Em diversos momentos do contato com Ana, antes das filmagens, ela expressou de algum modo um sentimento de solidão. Fosse devido à vida de dificuldades e abandono que experimentou em vários momentos, fosse devido à relação com o grupo de artistas que se formou na cidade de Embu das Artes e que depois se desfez, fosse por outras aflições sociais e existenciais, ela demonstrava sentir uma falta. Me lembro de Ana ter dito que não se identificava com as pessoas que encontrava, não conseguia, queria uma vida mais verdadeira, e que almejava viver como se a gente fosse mais irmão, como ela viu na África. Então, a solidão desta personagem mulher negra artista brasileira na vida era um sentimento que estava presente. E essa pergunta final que você menciona final foi prevista no roteiro, eu faria a pergunta em cena. As perguntas à Ana sempre foram feitas em cena. Mas é possível, embora eu não tenha certeza, que eu tenha dito que ela podia ou não responder às perguntas, que poderia ficar em silêncio se quisesse. O que tenho certeza é que aquela seria a última pergunta do filme e o zoom out marcaria também esse adeus, junto com a música cantada por Sarah Vaughan, To Say Goodbye. Então, acho que a cena foi um recurso de roteiro, direcionando câmera e montagem para marcar uma visão do filme. Mas, ainda que tenha sido assim, a cena me parece ser muito verdadeira e corresponder integralmente aos anseios da própria Ana de expressar os seus reais sentimentos de mundo. Rever a cena me toca: os gestos dela, a expressão, o olhar. Aquilo era muito dela, não era de mais ninguém, não.
Praticamente na metade do filme, vemos Ana e você sentadas juntas à mesa tomando café e conversando. Esse é, salvo engano, o único momento em que você, Regina, se mostra na frente da câmera como diretora. Mas, ali, não há uma diretora-entrevistadora trivial, que usa seu poder para não aparecer nas imagens ao fazer perguntas desde o fora de campo ou que escolhe aparecer na tela a partir de convencionais disposições hierárquicas de entrevistadora e entrevistada. Para obter de Ana depoimentos sobre um tema sensível — você à personagem: "Ana, você tem medo da morte?" --, você senta com ela à mesa para tomar um café. Ali, você evidencia o que seriam suas marcas autorais no fazer documental? Você poderia comentar essa sua escolha, por favor, pensando talvez nas referências e nas visões e anseios que você tinha à época do filme com relação não apenas às questões formais, mas também às questões éticas na realização de documentários que escapam à estrutura e à produção clássicas e dominantes?
Regina: Acho que sim, esse jeito de fazer é o meu modo de ver um documentário. A gente está ali mesmo conversando e tomando um cafezinho juntas. Mas não pensei nisso de modo consciente, me guiei pela minha intuição pra construir essa marca autoral de que você fala. E nunca passou por minha cabeça que eu detivesse qualquer tipo de superioridade de diretora em relação à pessoa que estava sendo entrevistada. Se tivesse que haver ali algum tipo de superioridade, seria a de Ana, pois ela era a estrela. Eu queria fazer um filme íntimo, pessoal, que beirasse o poético. Como conseguiria fazer isso exercendo qualquer tipo de relação hegemônica?!
Depois do filme, você manteve contato com Ana? Tem notícias de como ela está hoje em dia?
Regina: Infelizmente, não mantive contato com a Ana depois de terminado o filme. Nesse sentido, nossa relação aconteceu ali, durante as filmagens. Acho que há duas cenas no filme que talvez possuam uma outra camada de significado nesse sentido, que seriam mais metalinguísticas, autobiográficas e afetivas quanto à relação no momento e para a realização do filme. São a primeira e a última cenas. Na primeira, quando entra a música Emoções, de Roberto Carlos, e a canção diz: “Eu hoje estou aqui, vivendo esse momento lindo”. Esse momento lindo de fazer esse filme, de poder mostrar a Ana para espectadores do filme. Na última cena, a Sarah Vaughan está cantando “To say goodbye” e um zoom out acontece. É uma despedida do filme também. Ele está acabando. Estamos indo embora. A Ana. Todos nós, não é?
A Ana Moysés faleceu no ano de 2003.
Referências
CARVALHO, N. Cinema e representação racial: o cinema negro de Zózimo Bulbul. Tese de Doutorado em Sociologia. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.
GUERRA, Nayla. “Entre a redação e o set de filmagem: a circulação do pensamento feminista na Ditadura Civil-Militar (1970/1980)”. Revista Epígrafe, São Paulo, v. 10, n. 1, pp. 78-110, 2021.
OLIVEIRA, Alcilene Cavalcante; HOLANDA, Karla. “Feminino Plural: história, gênero e cinema no Brasil dos anos 1970”. In: Bragança, Maurício; TEDESCO. Marina. (Org.). Corpos em projeção: gênero e sexualidade no cinema latino-americano. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2013, p. 134-152.
TAVARES, Mariana. “Cinema Novo, A Entrevista, 1966, Meio-Dia, 1970”. In: Helena Solberg: do cinema novo ao documentário contemporâneo. SP: Imprensa Oficial/É tudo verdade, 2014, p. 22 — 35.
NORONHA, Danielle. “Elas por trás das câmeras: reflexões sobre as mulheres no audiovisual”. Disponível em: https://abcine.org.br/artigos/elas-por-tras-das-cameras-reflexoes-sobre-as-mulheres-no-audiovisual/.
“Carolina Maria de Jesus e a favela”. Disponível em: https://blogdoims.com.br/carolina-maria-de-jesus-e-a-favela/
Mariana Queen Nwabasili é jornalista e pesquisadora, doutoranda e mestra em Meios e Processos Audiovisuais pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Mestra em Curadoria Cinematográfica pela Elías Querejeta Zine Eskola, na Espanha, instituição de artes vinculada à UPV (Universidade do País Vasco) e à Tabakalera - Centro Internacional de Cultura Contemporânea. Curadora de curtas-metragens da Mostra de Cinema de Tiradentes 2023, 2024 e 2025. Curadora do Cabíria Festival Audiovisual 2022 e 2024; da Mostra de Cinema de Ouro Preto (CineOP) 2024 e da Mostra de Cinema de Belo Horizonte (CineBH) 2024 e 2025. Foi selecionadora de filmes brasileiros do 28º Forumdoc.bh - Festival do Filme Documentário e Etnográfico, em 2024; do 24º FestCurtasBH - Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte, em 2022, no qual idealizou a sessão paralela "Filmes decoloniais?", e da 29ª edição do Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, em 2018. Atua na crítica de cinema e de teatro, tendo participado da 10ª edição do Critics Academy do Festival de Cinema de Locarno, na Suíça, em 2021. Pesquisa autorias, representações e recepções cinematográficas vinculadas a raça, gênero, classe, colonialismo e (de)colonialidade, sobretudo no cinema brasileiro

HISTERIAS
dir. Inês Castilho
1985, 17 mins
16mm para 2K, Preto e branco
Intercalado com registros da performance “Possessão” da bailarina Juliana Carneiro da Cunha, inspirada no misticismo cristão, este curta experimental, nas palavras da própria cineasta, trata do “sofrimento psíquico das mulheres em uma sociedade patriarcal”. O filme leva o espectador a uma jornada desorientadora — com cortes abruptos de som e imagem — atravessando a Igreja Católica, a sexualidade reprimida, a violência racial cometida por mulheres brancas, a fadiga materna, o machismo e o vício em drogas.
Como jornalista, Inês Castilho teve papel importante na imprensa feminista alternativa no Brasil nas décadas de 1970 e 1980, escrevendo para jornais como Nós Mulheres e Mulherio. Como cineasta, dirigiu o curta experimental Histerias (1983) e o documentário Mulheres da Boca (1982), co-dirigido com Cida Aidar. Também atuou como roteirista, produtora e assistente de direção em outras produções da época. Atualmente, escreve para o blog Outras Palavras.
Nosso objetivo é tornar nossa programação o mais acessível possível, através da legendagem em várias línguas, e mantendo o acesso gratuito. Mas a distribuição, legendagem, redação e tradução custam dinheiro. Não recebemos nenhum financiamento, portanto, por favor, considere fazer uma doação para que possamos manter este projeto disponível a todos. Temos um Patreon para apoiadores regulares, ou você pode fazer uma doação única aqui.



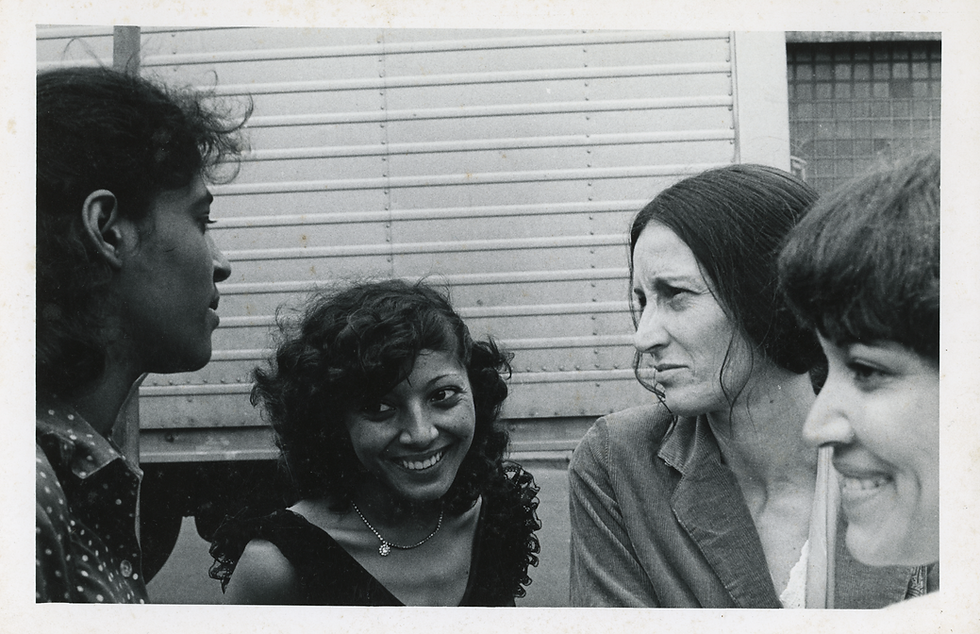



Entrevista com
Inês Castilho
por Laura Batitucci
Laura Batitucci: Como você descreveria Histerias com suas próprias palavras?
Inês Castilho: Histerias é uma reflexão político-poética sobre o desejo de amor e transcendência. O filme parte da dor, da falta, do sofrimento e da discriminação vividos pelas mulheres. Essas experiências de privação se manifestam de muitas formas, da desigualdade social à repressão do desejo, passando pela exclusão racial, de classe e de gênero. Enraizado nesse contexto, o filme escancara a inquietação humana em busca da paixão divina. Retrata um corpo que luta para respirar sob o peso de uma sociedade marcada por estruturas de opressão e silêncio.
LB: Qual foi a força motriz por trás do filme, ou como você o descrevia para as pessoas que participaram?
IC: O filme nasceu da excitação intensa que percebi em mim e nas colegas do meu filme anterior, Mulheres da Boca, ao mergulharmos na prostituição feminina. Uma exaltação que transbordava, não se deixava conter. Para Histerias criamos situações plenas de erotismo, e convidamos atrizes e atores a refletir sobre amor, gênero e raça.
LB: Como o clima político da ditadura e a posição do movimento feminista na época moldaram sua perspectiva e influenciaram a realização do seu filme?
IC: A nascente segunda onda do feminismo, da qual me considero parte, não representava uma ameaça real para a ditadura. Os assassinatos do jornalista Vladimir Herzog em 1975 e do operário Manoel Fiel Filho em 1976 já haviam desencadeado o início do declínio do regime, e a declaração da ONU de 1975 como Ano Internacional da Mulher deu apoio institucional ao movimento feminista. Na época, a esquerda brasileira rejeitava o feminismo, argumentando que as reivindicações das mulheres desviavam o foco da luta de classes, que era vista como a causa política central. As questões feministas, diziam, seriam tratadas apenas depois da revolução.
É importante lembrar que, em São Paulo, o movimento feminista era composto majoritariamente por mulheres brancas, instruídas e de classe média. As vozes das mulheres negras, indígenas e queer ainda não eram ouvidas. O feminismo interseccional, o entendimento de que a opressão acontece na interseção entre classe, raça e gênero, foi introduzido por mulheres negras nos anos 1980.
LB: Como foi o processo para conseguir apoio de instituições culturais estatais para realizar Histerias (1983)? Houve alguma tentativa de censura em relação aos temas ou cenas do filme?
IC: Nosso trabalho como mulheres insurgentes ainda era incipiente, amplamente invisível. Éramos mulheres brancas, de classe média, em um país de maioria negra, onde pessoas analfabetas ainda eram impedidas de votar. Passávamos despercebidas pela censura.
Apesar do controle rígido sobre a imprensa, a música e o teatro, concursos de incentivo a curta-metragens continuavam acontecendo em São Paulo. No âmbito federal, a Embrafilme, então dirigida pelo intelectual Carlos Augusto Calil em São Paulo, estava aberta a apoiar projetos fortes. Franco Montoro era o governador do estado na época. Eram anos de lenta redemocratização.
Também é importante reconhecer o papel desempenhado pelo grupo de pesquisadoras da Fundação Carlos Chagas (FCC), que lançou, em 1978, o primeiro Concurso de Pesquisa sobre a Mulher. A iniciativa surgiu no contexto da abertura democrática e integrou o Programa de Apoio a Estudos sobre Mulheres e Relações de Gênero. Entre 1978 e 1998, foram realizadas três edições do concurso, que ao longo dessas duas décadas financiou mais de 170 projetos voltados à produção de conhecimento sobre a condição feminina no Brasil. Foi graças a esse apoio que realizamos Mulheres da Boca, o primeiro filme que codirigi com Cida Aidar. A Fundação Ford, que financiava as pesquisas da FCC, também contribuiu para a pós-produção de Histerias. Como se pode ver, havia brechas na estrutura opressiva da ditadura que tornaram possível o nosso trabalho.
LB: Como foi a sua colaboração criativa com a Tatu Filmes, que também produziu Mulheres da Boca (1982)?
IC: A Tatu Filmes foi fundamental na realização dos dois filmes. Os “sete Tatus” acolheram generosamente os projetos, oferecendo não apenas conhecimento técnico e equipamentos, mas também entusiasmo. Tenho uma gratidão profunda por todos eles e quero agradecer especialmente ao Chico Botelho, que faleceu em 1991.
A empresa, que surgiu de um coletivo formado na ECA USP, reunia cineastas com diferentes especialidades: Chico Botelho na direção de fotografia, Walter Rogério no som, Wagner Carvalho na produção, e Adrian Cooper, Mário Masetti, Alain Fresnot e Claudio Kahns, todos eles diretores com projetos próprios.
LB: Como foram recebidas as primeiras exibições de Histerias? Como foi a distribuição do filme?
IC: A primeira exibição de Histerias foi inesquecível. Aconteceu na pequena sala de montagem da Tatu Filmes, na Rua Wisard, na Vila Madalena. Era literalmente a sala da moviola, usada para edição. Não era um espaço de projeção, e exibições ali não eram comuns. Na ocasião, ao final de uma sessão da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, no MASP, com a sala já vazia e nenhuma exibição prevista em seguida, comentei que Histerias estava pronto. Jean-Claude Bernardet, que estava presente, sugeriu que um pequeno grupo de cineastas fosse assistir. Seguimos todos para a Tatu Filmes. Eu estava insegura em relação ao filme e observei atentamente as reações. Quando a sessão terminou, houve um longo silêncio, quebrado apenas pelos soluços discretos de Jean-Claude. Aquele momento marcou o início de uma amizade profunda.
A distribuição do filme, no entanto, foi precária e improvisada. Dependia dos esforços de Isa Castro na CDI, Cinema Distribuição Independente, uma pequena distribuidora com sede no Bixiga, em São Paulo. O filme circulou por universidades, grupos de mulheres, coletivos de psicanalistas e algumas mostras curadas. Foi selecionado para a mostra de documentários em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, e exibido no festival Films des Femmes, em Paris. No entanto, foi recusado por uma mostra organizada pela Folha de S.Paulo, apesar do forte apoio de Jean-Claude.
Essa recusa já sinalizava uma certa resistência que o filme enfrentaria junto a públicos mais amplos. Era uma obra experimental que abordava um tema frequentemente ignorado: o sofrimento psíquico das mulheres em uma sociedade patriarcal. No rastro da ditadura, com seu legado de prisões, torturas e mortes, ainda havia uma dor profunda e não elaborada a ser enfrentada.
LB: Em Histerias há uma performance de Juliana Carneiro da Cunha intitulada "Possession", creditada como inspirada na vida e na obra de Santa Teresa d’Ávila e São João da Cruz. Você pode nos contar o que é Possession dentro do filme e como ela foi adaptada?
IC: "Possession" não foi criada para o filme. Era uma performance solo já existente da incrível atriz e bailarina Juliana Carneiro da Cunha, encenada originalmente em 1976, com direção de Alain Louafi. A peça mergulhava no misticismo cristão, inspirando-se nos êxtases espirituais intensos de Santa Teresa d’Ávila e São João da Cruz, como indicamos nos créditos.
Eu assisti à performance em 1979, quando trabalhava no caderno de cultura da Folha de S.Paulo. Fui enviada para cobrir o espetáculo e escrever sobre ele. Fiquei profundamente impactada pela força emocional da encenação, embora hoje eu não me lembre do artigo que escrevi. Anos depois, ao imaginar Histerias, a lembrança daquele momento voltou com força. Convidei Juliana para filmarmos a peça e ela aceitou.
No contexto do filme, a performance funciona como uma meditação visceral sobre libertação espiritual e psíquica. Ela se conecta com os temas mais amplos que exploramos, ligados ao desejo, ao sofrimento e ao universo interior das mulheres. Em vez de recriar a peça, adaptamos a encenação original de Juliana para o espaço cinematográfico. Filmamos em um único plano contínuo, preservando sua intensidade e presença. O resultado permanece como um dos pontos mais emocionantes do filme, em que a expressividade física da dança se torna uma forma de resistência e transcendência.
LB: Histerias foi feito um ano depois de Mulheres da Boca e leva ainda mais longe o embaralhamento entre documentário e ficção. Como você e Cida Aidar desenvolveram essa abordagem? Houve alguma pesquisa prévia para as entrevistas?
IC: Para Mulheres da Boca, realizamos uma pesquisa intensiva na região da Boca do Lixo, em São Paulo, onde mulheres trabalhavam nas ruas, e nas chamadas Bocas do Luxo, os nightclubs. Com Histerias, a história foi diferente. O projeto nasceu da intensidade emocional que vivenciamos durante a produção de Mulheres da Boca. Parecia uma espécie de celebração.
Não trabalhávamos dentro de moldes acadêmicos. Nosso processo era guiado principalmente pela intuição, com o apoio de muitos amigos que se juntaram a nós.
Ao mesmo tempo, a Cida estava em contato com um grupo de psicanalistas que estudava o tema da neurose feminina. Essas conexões plantaram as sementes do filme, que originalmente tinha o título de trabalho Três Marias ou Histeria.
A síntese brilhante do que o filme viria a ser partiu de Isa Castro, atriz, montadora e uma das principais forças criativas por trás da sua forma final. Fora o envolvimento pessoal da Cida, o grupo de psicanalistas não participou diretamente do filme.
LB: O filme começa com uma imagem marcante de uma mulher negra, aparentemente em surto psicótico, sendo forçada a entrar em um carro por enfermeiras brancas, com uma igreja ao fundo. Em outras partes do filme, há gestos sutis que tocam em hierarquias raciais e de gênero, inclusive no ambiente do escritório da Tatu Filmes. Você poderia comentar como essas dinâmicas foram tratadas no filme?
IC: O que considero mais importante destacar é que a cena de abertura mostra a opressão de uma mulher negra por mulheres brancas. A igreja está presente, mas apenas ao fundo. Ela não é o foco central. A dimensão racial é apenas sutilmente sugerida.
Outro momento que aponta nessa direção é a cena no escritório da Tatu Filmes [12:24 – 13:27], onde vemos Cristina Amaral, uma mulher negra que hoje é amplamente reconhecida como uma montadora lendária do cinema brasileiro, ao lado de Geleia, um dos estagiários da empresa. Sua presença silenciosa e atenta, captada espontaneamente por Chico Botelho, acrescenta uma nova camada ao modo como o filme aborda a questão racial.
Dito isso, todos nós sabemos do papel histórico que a Igreja Católica teve na repressão da sexualidade feminina e dos danos profundos que isso causou. Essas estruturas — racismo, patriarcado e autoridade religiosa — se entrelaçam e se reforçam de maneiras sutis e visíveis. Histerias não busca explicar essas dinâmicas por meio de discursos diretos, mas sim sugeri-las por meio do clima, do gesto e da imagem, deixando espaço para a reflexão do espectador.
LB: Na sua opinião, qual foi o impacto dos movimentos de libertação das mulheres na saúde mental das mulheres hoje? As coisas melhoraram nos últimos anos?
IC: Ainda vivemos os efeitos da pobreza e da fome. Nenhum feminismo é capaz de aliviar o sofrimento das mulheres que são chefes de família e lutam apenas para sobreviver. Mas o feminismo, como força cultural, abriu novos espaços onde as mulheres podem começar a respirar com mais liberdade.
Tem sido uma alegria testemunhar, ao longo das décadas, o crescimento do feminismo negro, a força dos movimentos lésbicos e, mais recentemente, o surgimento das mulheres indígenas como lideranças políticas e culturais. Claro que ainda há um longo caminho pela frente. Celebramos avanços importantes, como a presença de mulheres negras e indígenas no ministério do presidente Lula, mas é preciso seguir atentas. Os retrocessos estão à espreita.
Laura Batitucci é arquivista e técnica de cinema. Atualmente trabalha como técnica de restauração de filmes no Arquivo Nacional das Imagens em Movimento (ANIM) da Cinemateca Portuguesa, em Lisboa. É também diretora executiva da Cinelimite.
DUAS VEZES MULHER
dir. Eunice Gutman
1985, 11 mins
35mm para 4K, Preto e branco
Jovina e Marlene, duas mulheres negras de gerações diferentes, deixaram o Nordeste em busca de novas oportunidades na favela do Vidigal, no Rio de Janeiro. Elas relatam como enfrentaram grileiros portugueses e transcenderam o papel de donas de casa.
Suas histórias refletem o crescente número de mulheres reconhecidas como chefes de família no Brasil — fenômeno que se mantém até hoje — e a migração significativa para centros urbanos até a década de 1980, período marcado por severa crise econômica e alta inflação.
Eunice Gutman (n. 1941) é cineasta, editora e roteirista. Após estudar no INSAS, em Bruxelas, trabalhou como editora para a televisão belga e francesa. Retornou ao Brasil na década de 1970, quando dirigiu seu primeiro filme, o documentário E o mundo era muito maior que a minha casa (1976), sobre alfabetização de adultos no interior do Rio de Janeiro. Ao longo de sua carreira, realizou pelo menos dezessete filmes, incluindo o mais recente, Luzes, Mulheres, Ação (2022). Grande parte de sua obra é dedicada às questões femininas e à luta das mulheres por seus espaços.
Nosso objetivo é tornar nossa programação o mais acessível possível, através da legendagem em várias línguas, e mantendo o acesso gratuito. Mas a distribuição, legendagem, redação e tradução custam dinheiro. Não recebemos nenhum financiamento, portanto, por favor, considere fazer uma doação para que possamos manter este projeto disponível a todos. Temos um Patreon para apoiadores regulares, ou você pode fazer uma doação única aqui.


Não queremos ficar caladas:
uma conversa com Eunice Gutman
por Lorenna Rocha
A identidade de Eunice Gutman como cineasta emergiu à medida que ela passou a reconhecer-se como feminista. Após estudar na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Gutman mudou-se para a Bélgica em 1965 para escapar da ditadura civil-militar brasileira e cursar o Institut National Supérieur des Arts du Spectacle (INSAS), onde aprendeu técnicas de realização cinematográfica e de produção televisiva. Ao longo dos anos em que viveu na Europa, sobretudo na Bélgica, entrou em contato com o pensamento feminista, com reflexões sobre gênero e com debates a respeito da história e da sexualidade das mulheres. Quando voltou ao Brasil, no início dos anos 1970, constatou que, dado o ambiente conservador do país e as liberdades restritas, discussões semelhantes ainda eram incipientes. Em toda a filmografia de Gutman, percebe-se um diálogo fecundo entre gênero, classe e raça. Sua atenção às pessoas retratadas em seus documentários é sempre sensível, e os temas que aborda, como prostituição e lutas por moradia, sempre sob a perspectiva de mulheres trabalhadoras, eram pouco usuais para sua época.
Diretora de numerosos curtas-metragens, realizados tanto de forma independente quanto em colaboração, e cofundadora do efêmero Coletivo de Mulheres de Cinema e Vídeo do Rio de Janeiro, que existiu entre 1985 e 1987 ao lado de Regina Veiga, Ana Carolina, Tereza Trautman e outras, Eunice Gutman permanece como uma das vozes mais comprometidas do Brasil na luta pela emancipação das mulheres e pela potência do cinema. Seu longa-metragem mais recente, Luzes, Mulheres, Ação, estreou em 2022 no Festival do Rio. O documentário combina entrevistas, cenas teatrais e imagens de arquivo para traçar a história dos movimentos de mulheres, do sufrágio no início do século XX às figuras públicas contemporâneas, e para aproximar gerações na construção de uma visão mais inclusiva. Carioca, Gutman segue demonstrando um compromisso inabalável com a defesa dos direitos sociais das mulheres por meio do cinema.
Lorenna Rocha: Em uma entrevista que você concedeu no âmbito do programa Mulheres, Uma Outra História, na Another Screen, você mencionou que fazia filmes como uma forma de revelar coisas a si mesma, um modo de descobrir-se como mulher. O que você esperava compreender melhor sobre si ou sobre o Brasil dos anos 1980 quando decidiu se aproximar de Jovina e Marlene, duas mulheres negras de uma comunidade do Rio de Janeiro, para Duas Vezes Mulher, de 1986?
Eunice Gutman: Este é um filme sobre mulheres migrantes. Havia, e ainda há, muitas pessoas que deixam o Nordeste e vão para as comunidades do Rio de Janeiro em busca de uma nova vida e de novas oportunidades. O Brasil é um país constituído por pessoas vindas de outras partes do mundo, seja por escolha, seja por circunstâncias. Então, de certo modo, é uma história que vive em todos nós. Minha mãe veio de Pernambuco e meu pai, da Polônia. Eu tinha curiosidade de ouvir Jovina e Marlene contarem suas vidas, sua chegada ao Rio de Janeiro. Eu me interessava em retratar a vida nessas comunidades. Fiz visitas, pesquisei aqui e ali, e foi assim que as conheci.
LR: O filme traz para o primeiro plano as vozes ativas e reflexivas de suas duas protagonistas, mulheres negras trabalhadoras que raramente são colocadas no centro das conversas sobre lutas por moradia e trabalho no Brasil. Com Duas Vezes Mulher, você estava respondendo intencionalmente ao cinema brasileiro da época, particularmente às suas vertentes dominantes do cinema de esquerda e militante, que com frequência permaneciam masculinistas e pouco atentas à raça ao retratar a classe trabalhadora?
EG: Meu interesse em entrevistar aquelas duas mulheres nasceu do desejo de compreender como elas enfrentavam esse mundo patriarcal. Minha entrada no cinema não começou com filmes feministas. Eu estava em diálogo com autoras como Simone de Beauvoir. Naquele período, fui impactada por uma frase de Carol Hanisch: “O pessoal é político.” Essa ideia me transformou profundamente. Minha vida me parecia política, e isso despertou em mim o desejo de explorar as questões a partir da perspectiva de uma mulher.
LR: Tenho a impressão de que você se tornou feminista ao mesmo tempo em que passou a se entender como cineasta. Você diria que isso é verdade?
EG: Exatamente. O primeiro filme que dirigi foi em 1976, para o Mobral, o Movimento Brasileiro de Alfabetização, voltado para a educação de adultos. A personagem era uma mulher de 77 anos que dizia que, ao aprender a ler, descobriu que o mundo era maior do que a sua casa. Achei aquilo fantástico. O projeto seria originalmente dirigido por um homem sem formação em cinema. Quando soube, procurei a direção do Mobral, disse que tinha estudado na Bélgica e insisti que eu mesma deveria dirigir. No fim, aceitaram e adoraram o resultado. E o Mundo Era Muito Maior que a Minha Casa foi exibido amplamente pelo Brasil. Essa experiência me deu confiança nas minhas capacidades, embora eu não tivesse imaginado antes que iria dirigir um filme.
Quando cheguei à Europa, a direção ainda era um campo dominado por homens. Na época, as mulheres eram encaminhadas para a montagem. Mas, quando voltei ao Brasil, ouvi que nem a sala de montagem era considerada lugar para mulher. Ri do absurdo, recusei recuar e comecei a trabalhar como montadora ao mesmo tempo em que continuava a dirigir. Depois do filme do Mobral, fiz mais três: Com Choro e Tudo na Penha, de 1978, Anna Letycia, de 1979, e Só no Carnaval, de 1982, em colaboração com Regina Veiga, que tinha sido minha colega em Bruxelas.
Havia naquele período uma forte onda feminista na Europa e nos Estados Unidos, que acabou chegando ao Brasil. Essa energia nos aproximou como mulheres no cinema. Foi assim que iniciamos as atividades do Coletivo de Mulheres de Cinema e Vídeo do Rio de Janeiro. Outros coletivos se formaram depois em São Paulo e em outros lugares. Com o tempo se dissolveram, em parte pela dificuldade de manter aquele ímpeto sem um apoio estrutural mais amplo. Ainda assim, foi uma força poderosa que nos impulsionou a continuar fazendo filmes.
LR: Como era sua relação com as outras integrantes do coletivo, como Tereza Trautman, Ana Carolina e Regina Veiga?
EG: Ainda hoje estou em contato com essas mulheres. Nós nos reunimos depois de percebermos coletivamente que o cinema era dominado por homens. Precisávamos nos apoiar umas às outras e recusávamos as divisões impostas pelo patriarcado.
LR: Retrospectivamente, como você percebe o impacto da ditadura civil-militar em sua obra?
EG: Eu estava na universidade e era um período muito tenso. As estudantes e os estudantes sofriam muita pressão. Muitas pessoas eram vigiadas, presas e até expulsas por se manifestarem ou participarem de protestos. Muita gente decidiu partir, em sua maioria para Paris, que era uma espécie de referência. O irmão da Regina Veiga, que era meu amigo, estudava em Bruxelas e me disse que o custo de vida lá era mais baixo. Eu cursava Ciências Sociais na Faculdade Nacional de Filosofia, no Rio de Janeiro. O curso de cinema em Bruxelas custava apenas cinquenta dólares por ano, praticamente nada. Bruxelas era uma delícia, consegui viver com conforto e tudo era mais acessível. Passávamos o dia inteiro na escola de cinema, com aulas práticas e teóricas. Alguns professores vinham inclusive da França para dar aulas. Quando concluí o curso, recebi três propostas de trabalho. Uma delas era na TV belga. Naquele momento, as televisões europeias ainda produziam filmes e ofereciam vagas para recém-formadas e recém-formados em cinema. Mas brasileiras e brasileiros têm esse hábito de voltar, não é mesmo? [risos] Eu voltei só para visitar e acabei ficando.
LR: Como você estudou educação antes de migrar para o cinema, acha que sua experiência como professora moldou o modo como você compreendeu o cinema ou o tipo de filme que queria fazer?
EG: Minha mãe queria muito que eu fosse professora. Era algo revolucionário uma mulher ter um emprego e um salário próprio. Ela me convenceu a prestar o exame de ingresso no Instituto de Educação. Passei e me tornei professora de crianças. Acordava às cinco horas da manhã, eu detesto acordar cedo até hoje [risos], e, embora eu amasse dar aula, sabia que não era isso que eu queria para a minha vida. Depois disso, ingressei no curso de Ciências Sociais e passei a dialogar com as pensadoras feministas de que falei antes, como Simone de Beauvoir e outras. E o resto é históriaí.
LR: O cinema tem para você uma função educativa ou pedagógica?
EG: Sempre. Acho que todas nós, mulheres, somos um pouco professoras. Era uma das poucas profissões que de fato nos era permitida.
LR: O que a levou a trabalhar com documentário? Você chegou a considerar seguir pela ficção?
EG: Muitas mulheres faziam documentários porque era mais barato, os orçamentos eram menores. Mas o documentário também é uma espécie de ficção. Quando entrevistamos pessoas, fazemos perguntas que refletem as nossas próprias inquietações. Nós moldamos uma história por meio daquela pessoa. Por que perguntamos certas coisas e não outras? Isso também é uma forma de ficção. A vida de uma pessoa tem muitas facetas. Cabe a nós escolher sobre quais delas queremos que falem.
LR: Qual é a parte mais estimulante do processo de entrevista para você? O que você sente nesses momentos de encontro direto com as pessoas que você filma, como diretora?
EG: Gosto quando encontro ressonância para as minhas ideias, quando se forma uma parceria. Estamos de fato criando uma história junto com a pessoa em cena. Mas também fiz um filme de ficção, Tempo de Ensaio, de 1986, com Joana Fomm e minha irmã, Regina Gutman. O filme acompanha os ensaios de uma peça e, aos poucos, a atriz começa a entrar em conflito com o papel de mãe e esposa de sua personagem. Essa tensão se espalha pelo grupo e provoca discussões reais entre elenco e equipe. Foi uma maneira de trazer à tona questões sobre o modo como se espera que as mulheres vivam e sobre o que acontece quando desejam algo diferente.
LR: Você mencionou a construção de uma história com suas personagens, o que me fez pensar em Amores de Rua, de 1994, que adota uma abordagem nitidamente progressista a respeito da prostituição. Você poderia falar um pouco sobre esse filme?
EG: Nos anos 1970, participei de algumas reuniões feministas aqui no Rio. Em uma delas, vi a Gabriela Silva Leite falar com uma lucidez impressionante, e isso me deu vontade de fazer um filme com ela. Falei com ela logo após a reunião e ela topou na hora. Procurei o Banco Itaú em busca de financiamento e os homens que me receberam, já que eram sempre homens, disseram: "Eunice, prostituição? Poxa, você não tem outro tema?" [risos]
Achei a prostituição interessante porque expunha um lado das mulheres que havia sido inventado pelo patriarcado. Por outro lado, algumas mulheres se tornavam prostitutas porque queriam exercer uma certa liberdade no mundo. Mas não é uma vida fácil. Fiz o filme e a Gabriela Silva Leite disse coisas extraordinárias. Fomos a Nova York e a Buenos Aires. Participei do Congresso da ONU em 1995 depois de ganhar dez mil dólares e uma passagem aérea como prêmio num festival na Argentina. Com esse dinheiro, contratei a direção de fotografia e realizei Palavra de Mulher, de 1999, um filme sobre a conferência. Esse tema nunca me abandonou. É a minha vida.
LR: Como tem sido para você acompanhar esse processo de retomada, preservação e difusão da sua obra, por meio de iniciativas como a Another Gaze, com a Cinelimite e o Instituto Moreira Salles?
EG: Durante muito tempo, as discussões presentes no meu trabalho eram vistas como marginais, temas sobre os quais não se deveria falar. Com esta nova onda do feminismo, esses assuntos finalmente vieram à tona. Sinto-me estimulada a recuperar os filmes, a mostrá-los em festivais, a voltar a programá-los.
Recentemente, houve uma mostra da minha obra em Laranjeiras. Foi muito bonito. Fui homenageada pela Cavídeo, empresa dirigida por Cavi Borges, que me ajudou a finalizar meu filme mais recente, Luzes, Mulheres, Ação, de 2022. Eu havia realizado vários filmes com temática feminista e achava que ninguém os veria. Resolvi então reuni-los em um longa. Entrevistei mulheres mais jovens e filmei algumas das marchas que começaram em 2013. Exibimos o filme no Festival do Rio em 2022.
Acho que vivemos um momento de vitória. Há mais espaço para esse tipo de filme hoje. É muito mais fácil encontrá-los e fazer com que o público os assista. Tenho acompanhado o que as mulheres mais jovens estão fazendo e tenho gostado muito de seus filmes. No fundo, continuamos contando a mesma história. Por que querem nos silenciar? Não queremos ficar em silêncio.
Lorenna Rocha é historiadora, crítica e programadora de mostras e festivais de cinema. Cofundadora da INDETERMINAÇÕES. Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), é também editora-chefe da revista câmarescura. Atuou como crítica no blog Sessão Aberta e revista Cinética. Integrou a equipe de programação e curadoria de diferentes festivais como Janela Internacional de Cinema do Recife e Festival Internacional de Curtas-metragens de Belo Horizonte. Em 2023, participou do programa Talent Press no 73º Festival Internacional de Cinema de Berlim e, no ano seguinte, foi uma das pesquisadoras do RAW/Arché, residência artística do Doclisboa (PT) e Festival Márgenes (ES). Integrou a equipe dos projetos de restauração digital dos filmes Um É Pouco, Dois É Bom (Odilon Lopez, 1970) e Colagem (David Neves, 1968). Desde 2024, faz parte da equipe de programação de curtas-metragens da Mostra de Cinema de Tiradentes.
Entrevista filmada
com Eunice Gutman
Eunice Gutman relembra a realização de Duas Vezes Mulher, destacando sua abordagem ao cinema documental e a importância de produzir cinema nas comunidades da favela.

MENINAS DE UM OUTRO TEMPO
dir. Maria Inês Villares
1987, 25 mins
16mm para 2K, Colorido
A mulher entrevistada em Meninas de Um Outro Tempo, que nasceu no início do século e reside no mesmo lar de idosos, abre-se com a cineasta Maria Inês Villares sobre sexo, solidão e seus maridos falecidos. A relação de Villares com o lar só é revelada, de forma indireta, próximo ao final do filme. Em suas próprias palavras, o filme é “uma reflexão sobre a vida quando pouco dela resta”.
Maria Inês Villares formou-se em cinema pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, onde realizou seus primeiros filmes, os curtas Circulando (1976) e Tamo ino (1977). Fora do ambiente universitário, dirigiu os documentários Como um olhar sem rosto (As presidiárias) (1983) e Meninas de um outro tempo (1986). Além de diretora, Villares trabalhou como assistente de direção, roteirista e montadora.
Nosso objetivo é tornar nossa programação o mais acessível possível, através da legendagem em várias línguas, e mantendo o acesso gratuito. Mas a distribuição, legendagem, redação e tradução custam dinheiro. Não recebemos nenhum financiamento, portanto, por favor, considere fazer uma doação para que possamos manter este projeto disponível a todos. Temos um Patreon para apoiadores regulares, ou você pode fazer uma doação única aqui.

Entrevista filmada
com Maria Inês Villares
Maria Inês Villares fala sobre as origens de seu filme Meninas de um outro tempo, explicando como suas experiências pessoais na época influenciaram a obra e o que a levou a se interessar pelas vidas de mulheres idosas em São Paulo no final dos anos 1980.
Quem é preservado:
mulheres, acesso e o passado, presente e futuro
da preservação cinematográfica no Brasil
com Marina Cavalcanti Tedesco,
Natália de Castro e Débora Butruce
Marina Cavalcanti Tedesco: No Brasil, construir uma carreira de longo prazo em preservação de filmes não é pouca coisa. Como vocês começaram a trabalhar nessa área? E como vocês acham que suas experiências foram moldadas por ser mulher?
Débora Butruce: Trabalho com preservação de filmes e áreas correlatas há mais de duas décadas. Fui aluna do primeiro curso de preservação de filmes no Brasil, ministrado por Hernani Heffner na Universidade Federal Fluminense (UFF). Foi uma iniciativa pioneira que transformou completamente a minha vida profissional. A partir daí, consegui um estágio na Cinemateca do Museu de Arte Moderna, no Rio, onde trabalhei no Censo Cinematográfico Brasileiro, outra iniciativa pioneira realizada em colaboração com a Cinemateca Brasileira. Para dar sequência aos estudos, precisei sair do Brasil. Fiz treinamento na Filmoteca Española, em Madri, e no British Film Institute, em Londres. Embora hoje existam no Brasil vários cursos de curta duração em preservação audiovisual, ainda falta uma formação mais robusta e abrangente na área.
Depois disso, trabalhei por alguns anos no Arquivo Nacional e, mais tarde, colaborei com o CTAv Centro Técnico Audiovisual prestando consultoria de acervo e apoio a projetos. Em 2009, abri uma empresa para formalizar o meu trabalho e dispor da estrutura necessária para atuar de forma independente. Dei a ela o nome Mnemosine, em homenagem à deusa grega da memória e à minha profissão. Desde então, consegui trilhar no Brasil um caminho profissional singular, com altos e baixos.
Também me dedico a outras frentes, porque a preservação de filmes é um campo muito instável no Brasil, com inúmeros retrocessos. Profissionais frequentemente enfrentam desafios como financiamento irregular, crises institucionais e mudanças de prioridades conforme o governo de plantão. Muitas iniciativas de preservação dependem de projetos de curto prazo ou de editais, o que dificulta a sustentabilidade no longo prazo. As instituições públicas responsáveis por salvaguardar o patrimônio audiovisual frequentemente sofrem cortes orçamentários, e o investimento privado no setor permanece limitado. Esses fatores criam um cenário incerto, que nos obriga a diversificar o trabalho. Por isso, além da preservação, atuo também em curadoria, produção cultural e exibição de filmes. Desde o ano passado, tenho me dedicado especialmente à coordenação de projetos de digitalização.
Historicamente, as mulheres estiveram bem representadas nos arquivos de filmes, sobretudo em funções ligadas ao cuidado, como a inspeção de película. Esse processo envolve examinar minuciosamente os rolos em busca de danos físicos, encolhimento ou deterioração, garantindo que permaneçam estáveis para manuseio e preservação. Há fotografias antigas que registram esse trabalho e mostram salas cheias de mulheres inspecionando filme.
Por outro lado, as mulheres têm estado, em grande medida, ausentes dos cargos de liderança, que são cruciais para definir o planejamento de longo prazo e as prioridades institucionais. Embora isso esteja começando a mudar à medida que a área ganha reconhecimento, continua sendo essencial que as mulheres ocupem esses cargos de liderança. Dessa forma, garantimos um espectro mais amplo de perspectivas e evitamos que as mulheres fiquem restritas a papéis de bastidores, por mais importantes que sejam.
Natália de Castro: Meu percurso profissional é muito semelhante ao da Débora. Muitos da nossa geração seguiram uma trajetória parecida, nós que estudamos na UFF nos interessamos pela preservação por meio do curso que, na época, era optativo e depois se tornou obrigatório na grade. Depois, fiz estágio na Cinemateca do Museu de Arte Moderna. Como a Débora, precisei ir para o exterior para continuar a formação, na Cinemateca Portuguesa, na Filmoteca Española e na escola de San Antonio de los Baños, em Havana.
Começamos como terceirizadas, prestando serviços para o CTAv Centro Técnico Audiovisual, de forma temporária e por projeto. Em vez de oferecer contratos estáveis ou cargos de dedicação integral, o CTAv, como muitas instituições públicas, recorria à terceirização, chamando pessoas para projetos específicos sem oferecer segurança no emprego.
Mais tarde, por volta de 2012, uma grande crise atingiu a Cinemateca Brasileira. A instituição enfrentou severos cortes de orçamento e demissões, culminando na paralisação completa das atividades. Essa crise decorreu da decisão do governo federal de rescindir o contrato com a Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto (ACERP), que administrava a Cinemateca. A decisão foi influenciada por fatores ideológicos e por um padrão mais amplo de descaso com as instituições culturais, que atingiu seu auge durante o governo Bolsonaro. Em agosto de 2020, o governo assumiu o controle da Cinemateca, demitiu todos os funcionários e interrompeu as atividades por mais de um ano. Essa situação teve efeito cascata em outras instituições, inclusive no CTAv, levando ao encerramento dos nossos projetos e nos deixando desempregadas. Eu aceitei qualquer trabalho que aparecesse, mas não consegui voltar à preservação de imediato. Acabei sendo aprovada em um concurso público e me tornei assistente de bibliotecária na UFRJ. Trabalhei por um tempo em bibliotecas até que, em 2021, fui redistribuída para o CTAv como servidora.
Desde então, tenho trabalhado com a coleção de filmes do CTAv. Embora eu não ocupe um cargo de chefia, sou a única servidora com formação formal em preservação. Por isso, assumi responsabilidades que vão além da minha função oficial, incluindo a tomada de decisões importantes sobre o acervo. Isso envolve definir prioridades de restauração, determinar quais materiais exigem ações de conservação urgentes e orientar a equipe sobre práticas de manuseio e guarda.
Débora Butruce: O CTAv teve muita sorte de contar com a entrada da Natália na equipe. Ela é um caso um pouco à parte, por ter conseguido voltar à preservação de filmes depois de ser obrigada a seguir um caminho alternativo. As instituições públicas não apenas carecem de trajetórias de carreira claras para arquivistas de filmes como muitas sequer têm cargos específicos para preservação de filmes.
Durante o meu período no Arquivo Nacional, deparei com um desafio significativo. Foi aberto um concurso público para contratar novos servidores, algo raro na instituição. No entanto, o edital não incluía nenhum conteúdo relacionado à preservação audiovisual, ou seja, nossa área de atuação não era reconhecida como prioridade institucional. Essa omissão foi especialmente frustrante para quem já trabalhava havia anos em arquivos, pois evidenciou a falta de caminhos de carreira no nosso campo especializado.
Estamos em uma espécie de limbo. A preservação de filmes não é colocada no mesmo patamar de áreas mais tradicionais, como arquivologia, museologia ou biblioteconomia, que costumam constar nesses concursos. Ao mesmo tempo, dentro da indústria cinematográfica, não somos plenamente reconhecidos como parte essencial dos processos de produção.
Já passou da hora de sermos plenamente integrados como parte essencial do campo audiovisual. Precisamos com urgência de políticas públicas concretas que assegurem esse reconhecimento e nos permitam fortalecer os vínculos institucionais com áreas afins que já contam com estruturas e marcos profissionais bem consolidados.
Marina Cavalcanti Tedesco: Não há formação de longo prazo em preservação audiovisual no Brasil. Então, o que significa ser um profissional de preservação audiovisual aqui?
Débora Butruce: Uma formação em preservação de filmes só é realmente eficaz quando vem acompanhada de prática em arquivo. É preciso ter lidado com os desafios de gerir acervos, planejar ações de conservação e alocar recursos escassos. A gestão de acervos pode envolver tarefas como catalogar filmes, verificar lacunas ou danos nos materiais e garantir a documentação adequada. O planejamento de conservação inclui avaliar o estado das obras, definir os melhores métodos de restauração ou de preservação e priorizar os títulos que exigem atenção imediata. A alocação de recursos diz respeito a administrar orçamento, equipe e espaço de guarda limitados, algo especialmente crítico no Brasil, onde arquivistas frequentemente enfrentam problemas como a deterioração de materiais por condições inadequadas de armazenamento (altas temperaturas, por exemplo), instalações insuficientes para preservação e o desafio de trabalhar com coleções fragmentadas ou rolos não identificados.
Como já mencionamos, a nossa geração foi a primeira a receber uma base teórica formal na área por meio de disciplinas universitárias dedicadas ao tema. Só por volta dos anos 1970 metodologias e procedimentos internacionais começaram a se enraizar no Brasil. As gerações anteriores aprenderam na prática, muitas vezes apoiadas em expertise desenvolvida no exterior. O que percebemos é que a formação em preservação de filmes precisa ser híbrida, combinando conhecimento teórico e prática de arquivo. A nossa geração é fruto dessa virada, quando o debate acadêmico passou a influenciar o modo como a preservação é compreendida e realizada.
Os arquivos de filmes no Brasil foram criados mais ou menos na mesma época que a maioria dos arquivos de filmes no mundo. É claro que o nosso processo de consolidação foi diferente, sobretudo no acesso a financiamento e recursos. A Cinemateca Brasileira, por exemplo, tem origem nos anos 1940 a partir do Clube de Cinema de São Paulo, sociedade de cinema fundada por Paulo Emílio Salles Gomes e outros cinéfilos, dedicada à apreciação, à crítica e à preservação de filmes. Para comparar, a Federação Internacional de Arquivos de Filme (FIAF) foi fundada em 1938. Portanto, não ficamos muito atrás, mas é verdade que nosso processo de consolidação ainda está em curso.
Precisamos afirmar nosso lugar no campo mais amplo do cinema e em áreas afins como arquivologia, museologia e biblioteconomia. É essencial desenvolver protocolos alinhados a essas áreas e obter reconhecimento como parte integrante delas. Isso vai nos ajudar a padronizar práticas de catalogação, implementar estratégias de preservação de longo prazo e criar políticas de acesso estruturadas tanto para pesquisadores quanto para o público.
A estabilidade é um pilar fundamental da preservação de filmes, sem ela é difícil estabelecer fluxos de trabalho sustentáveis, manter esforços de preservação ao longo do tempo ou planejar restaurações futuras.
Natália de Castro: Formação e consolidação da preservação de filmes como profissão precisam caminhar juntas. O problema não é a falta de interesse, na verdade, vemos muitos profissionais de áreas como museologia, cinema e ciência de dados se aproximando da preservação de filmes. Mas, sem oportunidades de carreira estáveis, eles inevitavelmente migram para outras áreas.
Não podemos gerir instituições públicas de patrimônio com uma força de trabalho contratada por 36 meses. Que trabalho de preservação significativo pode ser realizado nesse tempo? Mesmo com uma equipe excepcionalmente qualificada e bem treinada, contratos de curto prazo impedem a continuidade e o planejamento de longo prazo.
Também precisamos construir uma rede de arquivos. Os esforços de preservação não podem permanecer tão centralizados como foram historicamente no Brasil. Além disso, não podemos focar apenas em longas-metragens de ficção. Precisamos considerar outros tipos de realizadores, criadores e obras audiovisuais, e estabelecer uma estrutura que permita a entrada e a permanência de um grupo mais diverso de profissionais nessa área.
Marina Cavalcanti Tedesco: A questão de quais projetos são realizados é crucial. Quais filmes serão preservados? Quais diretoras e diretores, gêneros e formas receberão atenção?
As mesmas desigualdades estruturais que moldaram o cinema brasileiro, como escassez de recursos, desequilíbrios regionais e a concentração de atenção em certos realizadores, também aparecem no processo de preservação. Muitas vezes, os filmes de diretores bem estabelecidos, em sua maioria homens brancos de grandes cidades como Rio e São Paulo, acabam priorizados, enquanto obras de mulheres, de cineastas negros e indígenas e de quem está fora desses centros urbanos são negligenciadas tanto na preservação quanto no acesso público.
A geração atual de cinéfilos brasileiros teve uma formação muito diferente da nossa, em grande medida graças ao maior acesso aos filmes. O acesso está diretamente ligado à preservação, pois, se os filmes não são preservados de forma adequada, tornam-se difíceis de estudar e de exibir, não apenas por estarem indisponíveis, mas também porque versões mal preservadas costumam carecer de nitidez, qualidade e completude exigidas para pesquisa acadêmica consistente ou para exibições públicas. Se a pesquisa permanece limitada, a formação cinematográfica no Brasil continuará a priorizar as mesmas obras que moldaram gerações anteriores, em sua maioria filmes de diretores brancos da Europa e dos Estados Unidos. Esse quadro, que já foi dominante, começou a mudar graças a projetos de preservação e digitalização que ampliaram o conjunto de filmes disponíveis para estudo e apreciação.
Natália de Castro: Você toca em algo crucial, precisamos garantir que essas obras possam ser acessadas. Isso pode parecer simples, mas torná-las acessíveis envolve mais do que abrir um arquivo digital ou disponibilizar um filme para exibição. Exige uma quantidade significativa de trabalho preparatório para assegurar que os materiais estejam em condições de serem vistos, estudados e preservados para as próximas gerações. Antes de tudo, é preciso garantir a conservação desses materiais, assegurando que estejam livres de deterioração e em estado adequado para exibição ou pesquisa. Isso inclui não apenas restaurar elementos danificados, como também padronizar formatos e garantir que a guarda e o manuseio atendam a altos padrões de preservação.
O que você diz sobre certas obras audiovisuais terem sido priorizadas em detrimento de outras se conecta à nossa discussão anterior sobre a estrutura dos arquivos e acervos de filmes e sobre a necessidade de uma rede descentralizada de arquivos regionais.
O uso de arquivos regionais significa que a pesquisa e a preparação dos materiais serão realizadas por pessoas que têm conexão direta com o tema do filme e com a comunidade. Isso ajuda a assegurar que a própria comunidade participe da forma como sua história e sua identidade são preservadas e representadas.
Para digitalizar acervos e tornar a preservação digital uma realidade, é preciso cumprir etapas essenciais. Isso inclui garantir condições adequadas de armazenamento, realizar inspeções para avaliar danos, limpar e reparar cópias quando necessário, escanear ou transferir os materiais e criar metadados precisos para que possam ser identificados e acessados no futuro. No entanto, muitas dessas etapas cruciais ainda não foram implementadas de forma ampla por falta de infraestrutura e de recursos.
Garantir que os metadados sejam escritos por pessoas com o conhecimento e a sensibilidade necessários é fundamental. Metadados são as informações registradas sobre um filme durante a catalogação, como título, direção, ano de produção, sinopse, dados técnicos e palavras-chave que ajudam a classificar temas e assuntos. Filmes realizados por mulheres e por outros grupos historicamente negligenciados muitas vezes carecem de descrições de conteúdo, sinopses ou palavras-chave relevantes, o que dificulta encontrá-los em bases de dados e arquivos. Sem metadados precisos, esses filmes permanecem marginalizados, inacessíveis e excluídos de discussões culturais e acadêmicas mais amplas.
É crucial que esses filmes estejam acessíveis para a pesquisa e que exista uma rede de arquivos capaz de abarcar uma variedade de perspectivas e agentes culturais. Assim como a preservação de filmes precisa enfrentar esses desafios estruturais, a própria realização cinematográfica deve evoluir para abrir espaço a novas vozes. Ao assegurar a preservação desses materiais, também estamos protegendo uma visão mais ampla e inclusiva da história do cinema.
Débora Butruce: O que observamos nos arquivos de filmes reflete a forma como o cinema brasileiro foi se estruturando ao longo do tempo. Esse panorama se ampliou nos últimos anos, com a inclusão de novos agentes, produtores culturais e cineastas. Embora persistam lacunas importantes, o cinema brasileiro se tornou muito mais diverso, em grande medida graças a políticas públicas introduzidas por instituições como a ANCINE Agência Nacional do Cinema e por secretarias de cultura estaduais e municipais. Essas iniciativas incluem programas regionais de fomento ao cinema, ações afirmativas para escolas de cinema e editais que apoiam produções de cineastas historicamente marginalizados. Essas políticas levam anos para se consolidar plenamente, e a preservação de filmes precisa do mesmo horizonte de longo prazo.
As metodologias de arquivo, isto é, as formas como os filmes são classificados, restaurados e tornados acessíveis, também são moldadas por processos históricos. As práticas de preservação tendem a seguir o reconhecimento de diretores ou de instituições, em vez de reconhecer formas colaborativas ou performativas de autoria. Ao curar filmes realizados por mulheres, muitas vezes precisamos repensar ideias convencionais de autoria, por muito tempo definidas por um viés masculino centrado na figura do diretor. A autoria também pode ser entendida pela performance. Atrizes frequentemente desempenharam papéis chave na definição dos rumos criativos e das dinâmicas de produção de um filme. Embora filmes estrelados por atrizes de destaque possam ser preservados, especialmente quando dirigidos por cineastas homens do cânone, as contribuições criativas dessas atrizes raramente são o que orienta a decisão de preservar essas obras. Isso aponta para uma lacuna na forma como o valor é atribuído e registrado e exige uma compreensão mais ampla de cujas contribuições são priorizadas ao construir e restaurar um legado cinematográfico.
Como a preservação de filmes no Brasil é um campo subfinanciado e instável, muitas vezes sentimos que estamos sempre correndo atrás do prejuízo. Isso não significa que não haja trabalhos importantes em curso. Este programa, Seis Vezes Mulher, é um exemplo recente de como os esforços de preservação e curadoria estão avançando.
Também é importante lembrar que esses filmes só são acessíveis hoje porque foram preservados de forma adequada. A tecnologia digital abriu possibilidades incríveis, mas não é uma solução milagrosa. Muitas vezes falta consciência sobre as etapas envolvidas, e os arquivos são frequentemente questionados sobre por que determinado filme não está disponível ou por que não está online. Tornar materiais públicos implica grande responsabilidade. Os arquivos não são meros repositórios de conteúdo e certamente não são plataformas de streaming. As decisões sobre o que pode ser disponibilizado envolvem considerações legais, éticas e técnicas e devem ser guiadas por padrões profissionais de preservação e de acesso.
Cabe aos arquivos fornecer um acesso bem organizado e significativo aos seus acervos. Isso é um compromisso de longo prazo. É necessário um trabalho extenso para descrever o conteúdo, catalogar os materiais e assegurar que os metadados e as informações de catálogo resultantes possam ser facilmente localizados e utilizados. Quando se trata de obras consideradas menores, como conjuntos de filmes amadores ou caseiros, esse processo se torna ainda mais complexo. Por estarem fora dos tipos tradicionais de classificação, exigem outros tipos de informação contextual para uma catalogação adequada.
Existem acervos de enorme valor que permanecem em grande parte inexplorados simplesmente porque apresentam perspectivas que o cinema dominante negligenciou. No caso de grupos marginalizados, incluindo mulheres, precisamos perguntar o que elas escolheram filmar, que histórias puderam contar a partir de seus pontos de vista, quem eram essas mulheres e como registraram em filme o mundo ao seu redor.
A capacidade de acessar filmes tem impulsionado discussões importantes, mas muitas vezes deixamos de lado o trabalho necessário para tornar esse acesso possível. O trabalho invisível de arquivos e profissionais de preservação segue amplamente sem reconhecimento. Precisamos dar um passo atrás e nos perguntar por que são esses os títulos disponíveis. Apesar das condições precárias e dos recursos insuficientes nos arquivos brasileiros, esses títulos foram preservados da melhor maneira possível. Nem sempre nas condições ideais, mas dentro das possibilidades do nosso contexto.
Há algo que a Natália mencionou e que gostaria de destacar porque é essencial, a descentralização e a regionalização dos arquivos. As instituições do Sudeste, historicamente as que receberam mais recursos e, por consequência, maior visibilidade, não são necessariamente as que devem se responsabilizar por identificar e preservar acervos regionais. Os esforços de preservação de filmes precisam ter alcance e presença genuinamente nacionais.
As instituições no Brasil estão em estágios distintos de desenvolvimento institucional e cada uma tem suas próprias necessidades e desafios. Essas diferenças impactam diretamente a capacidade de oferecer acesso aos seus acervos. Em muitos casos, instituições que estão apenas iniciando seus esforços de preservação ainda não dispõem de infraestrutura ou de capacidade para tornar seus materiais acessíveis ao público.
A demanda por acesso público a materiais de arquivo cresceu enormemente nos últimos anos e, quando as instituições não estão ativamente disponibilizando seus acervos, muitas vezes pode parecer que nenhum trabalho está sendo feito. No entanto, o acesso imediato não pode vir em detrimento da preservação de longo prazo. Filmes em condição frágil exigem avaliação cuidadosa, com atenção a estratégias eficazes de conservação para cada título ou acervo.
Ao mesmo tempo, tornar os materiais acessíveis pode ampliar a consciência pública e até mobilizar esforços de preservação. Esses são dilemas enfrentados diariamente por arquivos e instituições de memória. Por isso é tão importante discutir essas questões publicamente, para que as pessoas compreendam melhor a complexidade do trabalho e o raciocínio por trás dessas escolhas.
Marina Cavalcanti Tedesco: Oferecer acesso é a face visível do trabalho, aquilo com que as pessoas têm contato. Mas, nos bastidores, há um processo enorme e intensivo de trabalho. Quando lidamos com pessoas ou grupos historicamente marginalizados, esse trabalho se torna ainda mais complexo, com várias camadas e mais demorado. Vocês poderiam compartilhar suas experiências com esse lado do trabalho, a parte que tantas vezes permanece invisível?
Natália de Castro: Retomando o que discutíamos e conectando com esta pergunta, precisamos garantir não só a descentralização e a regionalização, mas também o apoio a iniciativas não institucionais. Sabemos, por exemplo, que muitos grupos não confiarão seus acervos ou suas memórias a uma instituição governamental. Existem preocupações de segurança para determinadas pessoas, grupos que já enfrentaram violência ou perseguição. Se realmente nos importamos com as memórias dessas diferentes comunidades e se acreditamos que elas fazem parte essencial da nossa história coletiva, então precisamos pensar com cuidado nas melhores formas de assegurar sua preservação.
Outra questão crítica que quero destacar é a nossa dependência excessiva de plataformas como o YouTube, por falta de alternativas viáveis. No CTAv, por exemplo, costumávamos enviar filmes indígenas para o YouTube, mas a plataforma frequentemente restringia a visualização a maiores de 18 anos por conta de nudez. Recentemente, passou a bloquear integralmente todos os filmes indígenas por preocupações com nudez infantil, embora as próprias diretrizes permitam esse tipo de nudez não erótica. No fim das contas, como o YouTube é o dono da plataforma, são as regras dele que determinam o que pode ou não ser compartilhado. Isso significa que, como instituição pública brasileira, enfrentamos o dilema de não ter pleno controle sobre a difusão de materiais culturais.
Essa questão evidencia um problema mais profundo e antigo, a dependência de plataformas e serviços privados, como os de streaming ou de armazenamento, que muitas vezes são nossa única opção. Essas plataformas podem impor restrições que comprometem nossa capacidade de preservar e difundir obras culturais importantes. Para avançar, precisamos encontrar soluções alternativas que ofereçam mais controle e respeito aos contextos culturais.
Quando se trata de acesso, esse é um problema que enfrentamos diariamente. Se não conseguimos tornar um filme acessível de imediato, precisamos ter um plano claro de como e quando o acesso será possível no futuro. O que frequentemente acontece nos arquivos é que o acesso é adiado porque o material exige preservação ou outro tipo de intervenção antes. No entanto, se essas ações nunca ocorrem, o acesso é adiado indefinidamente.
Uma vez que um filme começa a sofrer degradação acética, a deterioração se acelera rapidamente. Torna-se uma corrida contra o tempo. Se isolarmos o filme e tomarmos todas as medidas possíveis para desacelerar a deterioração, mas não avançarmos com a preservação ou a digitalização, o filme acaba se perdendo.
Por outro lado, oferecer acesso pode ajudar as pessoas a se envolverem com o filme, ampliar a conscientização e defender a sua preservação. Há muitos fatores a considerar.
Débora Butruce: Precisamos pensar também em projetos independentes. A chegada da tecnologia digital ampliou as possibilidades e tornou tanto a realização de filmes quanto a preservação digital mais acessíveis. No entanto, a preservação digital é complexa e muito mais frágil do que se imagina. Muitos presumem que plataformas como o YouTube sejam soluções confiáveis de armazenamento e dizem que está preservado no YouTube, mas isso é um equívoco. Embora o YouTube seja uma plataforma estável e bem estabelecida, e improvável que desapareça de um dia para o outro, a preservação exige outra lógica. Trata-se de planejar o futuro e garantir acessibilidade ao longo de décadas, não apenas por alguns anos.
Quando falamos em preservação digital, mesmo as estratégias de mais longo prazo costumam mirar em cerca de vinte anos. As instituições já carregam grande responsabilidade na gestão de seus acervos em película e também precisam desenvolver estratégias estruturadas para os materiais digitais. Se não tratarmos isso de forma abrangente, não conseguiremos acompanhar. Sem ação urgente e responsável, enfrentaremos lacunas significativas na preservação de filmes natos digitais no Brasil.
Os realizadores precisam levar essa questão a sério e considerar o que pode ser feito individualmente para preservar seus acervos, mesmo que em pequena escala.
A questão do acesso é interessante porque envolve fatores internos e externos. Como realizar o trabalho interno necessário nos arquivos enquanto lidamos com condições precárias. Tendo trabalhado em diversas instituições públicas, observo que estamos constantemente administrando crises internas, o que nos impede de definir prioridades claras e de planejar no longo prazo. Ao mesmo tempo, enfrentamos demandas contínuas de pesquisadores, cineastas, produtores e instituições culturais. Essas demandas podem ser benéficas por chamarem atenção para acervos que talvez passassem despercebidos, mas a falta de estabilidade gera desafios significativos. Quando focamos demais em responder a pressões externas, o planejamento interno eficaz acaba negligenciado.
É por isso que definir prioridades claras é tão crucial na política de acervo. Esse tema tem sido amplamente discutido tanto no campo em nível global quanto dentro da ABPA, a Associação Brasileira de Preservação Audiovisual. Muitas instituições brasileiras têm dificuldade em estabelecer políticas sólidas para seus arquivos porque estão sobrecarregadas com desafios operacionais do dia a dia, como falta de pessoal, recursos insuficientes e a necessidade constante de responder a demandas externas. Esses fatores deixam pouco espaço para um planejamento estruturado de médio e longo prazo.
A demanda por imagens de arquivo e por filmes do patrimônio cresceu significativamente, no Brasil e no exterior, à medida que o interesse pelo cinema brasileiro aumentou. No entanto, esse salto de demanda não veio acompanhado de um aumento de recursos. Os orçamentos e as equipes das instituições de arquivo seguem os mesmos, enquanto o volume de trabalho só se expande.
Marina Cavalcanti Tedesco: Vocês poderiam falar sobre a importância de termos uma Associação Brasileira de Preservação Audiovisual. A ABPA enfrenta muitos dos mesmos desafios, como financiamento, infraestrutura e instabilidade, mas funciona como um espaço crucial de debate e tem potencial para gerar um impacto mais amplo. Quais são algumas discussões centrais em curso na ABPA e em outros fóruns, inclusive internacionais, que vocês consideram importantes compartilhar?
Débora Butruce: A ABPA foi fundada em 2008. Fazemos parte da diretoria atual, eu sou a presidenta e a Natália é a diretora de relações institucionais. A associação reflete a evolução do campo. Depois de 2000, surgiram projetos como o Anuário Estatístico do Cinema Brasileiro, que ajudaram profissionais a reconhecer a preservação de filmes como uma área de atuação específica. Isso marcou uma mudança importante e a criação da associação foi um passo natural nesse processo.
Nosso desafio é que somos uma associação de profissionais, não de arquivos, e isso afeta a nossa capacidade de influenciar decisões. Embora reunamos especialistas em preservação audiovisual, não representamos as instituições que detêm acervos, o que pode limitar o alcance e o impacto direto dos nossos debates. Ainda assim, nos últimos anos ampliamos nossa influência por meio de uma atuação pública mais forte, de colaborações mais frequentes e de uma maior conscientização sobre a preservação, o que nos tem permitido incidir com mais peso nas discussões de políticas.
Atualmente a ABPA tem uma diretoria com sete integrantes, seis mulheres e um homem, o que reflete uma mudança mais ampla em direção a maior equilíbrio de gênero no campo. Trabalhamos para evidenciar a importância das instituições de arquivo, para ampliar a consciência sobre a necessidade de preservar o patrimônio fílmico e para defender o reconhecimento dos profissionais de preservação de filmes. Também buscamos fomentar um diálogo que ultrapasse o setor de preservação, pois mudanças efetivas exigem engajamento com outras áreas e atores. Políticas públicas estruturais são essenciais para a sustentabilidade dos esforços de preservação no Brasil.
Débora Butruce: Um dos nossos esforços centrais tem sido trabalhar com cineastas para questionar a ideia de que a preservação é uma preocupação secundária. Muitas vezes ela é vista como algo a ser tratado apenas depois que ocorre um desastre. Mas, quando um acervo se perde ou fica irremediavelmente danificado, já é tarde. Quem vive a tragédia pessoal de perder seus arquivos inevitavelmente passa a entender, em retrospecto, a importância vital da preservação. Nosso objetivo é fazer com que essa consciência se estabeleça antes que essas perdas aconteçam.
Também temos atuado ativamente em discussões internacionais. A AMIA Association of Moving Image Archivists, organização sediada nos Estados Unidos com membros no mundo todo, tem convidado a ABPA para participar de suas conferências anuais e de debates contínuos. Esses convites nos deram a oportunidade de dialogar com especialistas internacionais, compartilhar nossas experiências e aprender com as abordagens de outros países para a preservação audiovisual. No entanto, os desafios que enfrentamos no Brasil exigem soluções adaptadas às nossas necessidades específicas. Sempre volto desses eventos inspirada e, às vezes, surpresa com os temas em pauta, alguns dos quais parecem bastante distantes da nossa realidade. Precisamos promover discussões mais profundas e substantivas no nosso próprio contexto. Seja em termos de infraestrutura, de recursos disponíveis ou da imprevisibilidade do clima, nossos esforços precisam estar ajustados ao nosso ambiente específico. Ainda lidamos com questões estruturais básicas. Só o nosso clima quente e úmido já representa um desafio significativo para a preservação.
Quando participamos dessas discussões internacionais, partimos de condições diferentes. Mas esse desafio também favoreceu a produção de conhecimento valioso no Brasil. Costumamos brincar que o país é como um laboratório de experimentação acelerada para a preservação em um mundo em aquecimento, um lugar onde já enfrentamos na prática como calor, umidade e recursos limitados testam os limites do cuidado arquivístico.
Um bom exemplo disso é a questão da deterioração de filme em poliéster, que a Natália e eu temos examinado de perto. O suporte em poliéster foi introduzido como alternativa mais estável ao acetato porque não sofre da síndrome do vinagre. Nos últimos anos, porém, temos observado degradação significativa em filmes de poliéster por conta do clima do Brasil. Essa situação nos coloca em posição singular para liderar pesquisas sobre a degradação do poliéster. Para que isso seja de fato eficaz, precisamos de mais do que medidas reativas, precisamos da capacidade de planejar no longo prazo e de realizar pesquisa especializada. O Brasil tem um conjunto valioso de conhecimentos especializados a oferecer nessa área, e nossas pesquisas podem contribuir para as discussões globais.
Os desafios enfrentados por arquivos no exterior são diferentes, mas há pontos-chave de conexão. Outros países de clima quente e úmido, como os da América Central, provavelmente compartilham preocupações semelhantes, e ainda assim raramente estabelecemos diálogo com eles. Em vez disso, grande parte da pesquisa e muitos referenciais teóricos em preservação são produzidos em países mais ricos e com mais recursos. As boas práticas relativas a ambientes de guarda, materiais de conservação e gestão de riscos foram em grande medida desenvolvidas nessas realidades, que contam com financiamento estável, equipamentos especializados e instalações com controle ambiental. Como resultado, as metodologias e práticas que usamos no Brasil frequentemente partem do pressuposto de que o que funciona nesses ambientes mais estáveis também funcionará aqui. Essas abordagens não foram concebidas para os desafios específicos que enfrentamos no país, o que as torna adaptações imperfeitas para a nossa realidade.
Esse quadro, no entanto, está mudando aos poucos. A América Latina começou a se colocar como um polo de pesquisa de ponta em preservação. Para que nossas contribuições sejam plenamente reconhecidas e para que o diálogo internacional seja realmente eficaz, precisamos de maior estabilidade financeira e institucional. Sem isso, ficamos presos a um ciclo de gestão de crises e não conseguimos moldar o campo de forma plena com o conhecimento que estamos gerando.
Natália de Castro: É verdade. Muitos países, arquivos e profissionais enfrentam desafios semelhantes aos nossos, mas o diálogo entre nós ainda é insuficiente. Embora tenhamos capacidade de desenvolver certas tecnologias localmente, muitas vezes esbarramos no acesso a ferramentas e equipamentos essenciais, como scanners de filme, amplamente produzidos na Europa e nos Estados Unidos. Os altos custos e as dificuldades logísticas de importação tornam essas tecnologias muito menos acessíveis para as instituições no Brasil.
Um exemplo claro disso são as tiras indicadoras de acidez que usamos para detectar degradação ácida em filmes. Elas são importadas e foram projetadas para ambientes controlados de outros países. Funcionam mudando de cor de azul para amarelo conforme a acidez aumenta. Nas nossas condições, porém, as tiras frequentemente ficam alaranjadas, ultrapassando os limites de medição da ferramenta. Isso sugere que os materiais com que trabalhamos passam por processos químicos diferentes daqueles dos ambientes para os quais as tiras foram concebidas. Umidade, variações de temperatura e outras variáveis locais provavelmente contribuem para essa discrepância. Este é apenas um exemplo de como precisamos desenvolver ferramentas de preservação adaptadas à nossa realidade. Temos expertise para criar tecnologias adequadas às nossas necessidades, mas a pesquisa e o desenvolvimento nessa área seguem gravemente subfinanciados.
É essencial reconhecer o papel das universidades, das instituições de pesquisa e da ponte entre arquivos e academia. Sem essa conexão, continuamos dependentes de metodologias e ferramentas importadas que não respondem plenamente aos nossos desafios específicos.
A ABPA é ao mesmo tempo produto do desenvolvimento do campo e reflexo de sua instabilidade. Muitos profissionais passaram pela ABPA e pela preservação e depois saíram. Após anos de estudo e formação, muitas vezes com apoio público para cursos no Brasil e no exterior, perdemos profissionais qualificados simplesmente porque não conseguem sustentar uma carreira nessa área. A falta de oportunidades de trabalho estáveis e de apoio institucional obriga muitos a seguir outros caminhos, enfraquecendo o crescimento de longo prazo da preservação audiovisual no país.
Marina Cavalcanti Tedesco: Gostaria de retomar o tema das mulheres nos arquivos. Existe uma conexão antiga entre cuidado, preservação da memória e mulheres. Trabalhar em arquivos de filmes, embora ainda faça parte do campo audiovisual, costuma oferecer mais flexibilidade do que trabalhar em um set de filmagem, o que facilita conciliar com a maternidade e as responsabilidades domésticas. Também é uma profissão que, até recentemente, foi subvalorizada. Esses fatores contribuíram para a presença significativa de mulheres nos arquivos de filmes desde os primórdios do cinema. No entanto, como em muitas outras áreas, seus papéis foram frequentemente ignorados e subestimados.
Débora Butruce: Esse é um tema sobre o qual sempre refletimos, mas que tem aparecido com mais força nos últimos anos. A Natália e eu somos mães, e a maternidade moldou de forma incontornável a minha trajetória na preservação de filmes. Tive a sorte de ter em casa minha própria mesa de inspeção de película, o que me permitiu retomar o trabalho pouco depois do nascimento da minha filha. Quando o projeto do CTAv foi encerrado, na esteira das paralisações de 2020, na época do fechamento da Cinemateca, entrei em pânico. Ter acesso aos meios de produção — retomando a velha questão da luta de classes e da desigualdade — foi o que me permitiu continuar trabalhando apesar dos desafios do pós-parto, do desemprego e da instabilidade.
O encerramento do projeto do CTAv foi consequência direta da grave crise no setor audiovisual nacional em 2020. Essa crise foi marcada por forte instabilidade política e falta de apoio governamental. Em agosto de 2020, o governo federal demitiu todas as equipes técnicas e dissolveu a Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto (ACERP), responsável pela gestão de iniciativas centrais de preservação audiovisual. A reestruturação do Ministério da Cultura, transferido para o Ministério da Cidadania, desmantelou políticas culturais fundamentais que sustentavam a preservação de filmes. Como resultado, projetos como o do CTAv, que dependiam de infraestrutura estável e apoio do poder público, não puderam continuar suas atividades e acabaram encerrados.
Isso não é tão diferente de outros desafios que as mulheres enfrentam no trabalho. A instabilidade gera pânico porque nunca sabemos o que vem pela frente e não conseguimos fazer planos de médio ou longo prazo. Pessoalmente, tenho conseguido manter alguma regularidade no trabalho, mas vivo em alerta, sabendo que essa regularidade pode não durar. Essa incerteza impacta o meu cotidiano. Quando comecei o doutorado, tive muitas conversas com o meu orientador, que queria que eu me dedicasse exclusivamente à pesquisa, mas eu não podia me dar ao luxo de recusar trabalho. Eu sabia que, se me afastasse da área, seria difícil voltar. Sabemos o quão difícil é retornar à preservação de filmes e voltar para o quê, afinal, para um campo que mal existe. Mas as coisas vêm mudando, e é importante reconhecer e celebrar isso. No nosso campo, costumamos reclamar muito e às vezes parece que tudo é negativo, mas não é. Há mudanças em curso. No universo analógico, a película vem sendo cada vez mais reconhecida como artefato museológico, e as pessoas aos poucos começam a entender o seu significado. O trabalho das profissionais de preservação ganhou mais reconhecimento e, em essência, esse esforço de base tem sido e continua sendo em grande medida realizado por mulheres.
Natália de Castro: A questão de gênero atravessa todos os aspectos da nossa vida. Quando fiquei desempregada, passei a fazer trabalhos pontuais, atuar em eventos de exibição de filmes e coisas do tipo. Felizmente, eu já estava no mestrado e tinha bolsa, o que me permitiu me sustentar por um tempo, complementando com freelas ocasionais. Durante o mestrado, engravidei e só consegui receber salário-maternidade porque eu contribuía havia anos para a Previdência Social. Esse benefício me sustentou por um período e só pude voltar a procurar trabalho depois que consegui vaga para minha filha em uma creche pública.
Hoje, como servidora em uma realidade pós-pandemia, consegui trabalhar em modelo híbrido. Em alguns dias da semana, preciso buscar minha filha na escola às 14h30, e reconheço que só consigo fazer isso por causa do cargo que ocupo atualmente. Para quem não tem essa flexibilidade, as opções muitas vezes se resumem a ficar em casa ou deixar o mercado de trabalho.
Débora Butruce: A Natália trouxe um ponto interessante sobre a academia, que acabou sendo uma alternativa para ela. Comigo aconteceu o mesmo quando me vi desempregada. Iniciei a pesquisa de doutorado porque sentia que tinha muito potencial, experiência e vontade de compartilhar esse conhecimento com o mundo. Voltei à universidade por necessidade de me manter ativa na área e, naquele momento, a academia pareceu um caminho viável.
Entrei de cabeça no doutorado na ECA (Escola de Comunicações) e Artes da USP (Universidade de São Paulo) sem bolsa. Na metade do curso, consegui uma bolsa emergencial porque atendia aos critérios, entre eles ser mãe. Esse apoio foi crucial para eu conseguir me sustentar e realizar a pesquisa de forma adequada.
Natália de Castro: É importante tirar um momento para refletir sobre essas questões e desenvolver ideias. Muitas vezes perdemos essa oportunidade porque estamos sempre correndo, sem conseguir interromper a rotina para pensar e escrever.
Marina Cavalcanti Tedesco: Muitos profissionais de cinema passam a carreira inteira como freelancers, trabalhando em condições precárias, sem estabilidade e sem direitos. Como conseguem reservar tempo para pausar, refletir e organizar suas experiências em conhecimento? Se esse conhecimento não se transforma em tese ou dissertação, ele frequentemente fica restrito ao indivíduo e ao seu círculo imediato. A preservação de filmes é, por natureza, orientada pela pesquisa, arquivistas de filmes e academia deveriam estar em diálogo constante. Vocês e a sua geração são prova de que, quando isso acontece, tanto a academia quanto a preservação de filmes se beneficiam enormemente.
Antes de seguirmos para as considerações finais, há algo que eu não perguntei e que vocês gostariam de comentar?
Débora Butruce: Há uma questão específica que tocamos rapidamente, a digitalização de acervos. Embora isso esteja se tornando mais comum, especialmente no Brasil, precisamos encarar o tema com responsabilidade. Estamos gerando uma quantidade enorme de dados, como vamos preservar tudo isso no ambiente digital. Não se trata apenas de colocar em um disco rígido e guardar, a preservação digital exige etapas bem mais complexas. Continuaremos a lidar com o aspecto analógico do trabalho, os filmes originais não são descartados após a digitalização, e precisamos pensar a preservação digital de modo mais amplo e sistemático. Recebemos com bons olhos as iniciativas de digitalização, elas têm impacto significativo e trazem atenção para o campo da preservação de filmes. No entanto, se não agirmos com responsabilidade, em cinco anos os materiais estarão em pior estado e as digitalizações terão de ser refeitas.
Natália de Castro: Este é um momento crucial para nos comunicarmos de forma mais eficaz com o público, ajudando a entender que enviar um filme para o YouTube não significa necessariamente que ele está preservado. As pessoas precisam compreender todas as etapas envolvidas na preservação para que nosso trabalho seja de fato reconhecido e legitimado.
Retomando o que discutimos, a academia está muito atrelada à instabilidade. Precisamos ter cuidado para que o conhecimento especializado dos arquivos de filmes não se perca. Com frequência, quando projetos terminam, pessoas perdem o emprego de uma hora para outra, as instituições ficam sem equipe e o conhecimento valioso acumulado ao longo do projeto desaparece. É nossa responsabilidade sistematizar esse conhecimento, escrevendo, pesquisando e consolidando, para não precisarmos recomeçar do zero.
Sobre a digitalização, eu nunca tinha visto nenhum dos filmes deste programa e é incrível que agora possamos acessá-los. Precisamos aproveitar ao máximo essa oportunidade. No CTAv e também na ABPA, temos feito um esforço enorme para disponibilizar esse tipo de filme, conteúdos audiovisuais como filmes caseiros, documentários e produções independentes que por muito tempo foram negligenciados. É formidável poder ver esses filmes. Muitas vezes temos acesso apenas a uma sinopse, ou simplesmente ao fato de que o filme existiu. Lembro de tantos títulos que não consegui apreciar plenamente na graduação porque as cópias eram muito ruins, fitas VHS, cópias magenta desbotadas. Quando temos a chance, devemos aproveitar para oferecer acesso a cópias de alta qualidade. A qualidade da cópia que assistimos impacta diretamente a nossa fruição da obra. Quero parabenizar as iniciativas que disponibilizaram esses filmes, todas as obras são incríveis e revelam muitos aspectos do que significa ser mulher, abordando não só questões de gênero como também várias outras questões sociais. O acesso tem esse poder.
Marina Cavalcanti Tedesco: É impossível pensar em gênero sem considerar o contexto mais amplo, e percebemos rapidamente que o que muitas vezes vemos como questões específicas ou pessoais é, na verdade, profundamente interligado e compartilhado.
Quero agradecer à Natália de Castro e à Débora Butruce pela participação nesta mesa, que integra o programa Seis Vezes Mulher, apresentado por Cinelimite, Another Gaze e IMS. Espero que esta conversa seja tão significativa e envolvente para o público quanto foi para nós.
[1] The Censo Cinematográfico Brasileiro (Brazilian Film Census) was a project aimed at surveying and documenting the production, distribution, and exhibition of films in Brazil, helping to map the country's cinematic output and infrastructure. The project was active between 2001 to 2003.
[2] This conversation took place in 2023. As of 2025, Nátalia no longer holds this position within ABPA.
[3] The Anuário Estatístico do Cinema Brasileiro (Brazilian Film Statistical Yearbook) is an annual publication by the Agência Nacional do Cinema (ANCINE) that compiles data on film production, distribution, exhibition, and public policies in Brazil. Created in the early 2000s, it became a key reference for researchers and professionals, helping to systematize information about the national audiovisual sector.
Translated with DeepL.com (free version)
Marina Cavalcanti Tedesco (Nina Tedesco) é professora do Departamento de Cinema e Vídeo e do Programa de Pós-graduação em Cinema e Audiovisual na Universidade Federal Fluminense. Suas principais linhas de pesquisa são: 1) mulheres no audiovisual latino-americano; 2) direção de fotografia. Na realização audiovisual, atua como pesquisadora, roteirista, diretora e diretora de fotografia.
Natália de Castro é preservadora audiovisual, mestra em meios e processos audiovisuais e servidora pública no Acervo Audiovisual do Centro Técnico Audiovisual - CTAv, vinculado ao Ministério da Cultura. É autora do livro "Revisão de filmes: manual básico" (2023).
Débora Butruce é preservadora audiovisual, restauradora de filmes e curadora independente. Doutora em Meios e Processos Audiovisuais pela ECA-USP, foi Visiting Scholar na NYU, no Moving Image Archiving and Preservation Program. Possui 25 anos de experiência na área de preservação, com atuação nas principais instituições de patrimônio audiovisual do Brasil. Seus trabalhos de restauração de filmes clássicos e raros do cinema brasileiro vêm sendo exibidos mundialmente em festivais de cinema e no circuito de exibição comercial no Brasil e no exterior. Idealizadora da Mostra Internacional de Filmes Domésticos e do projeto Coleção Cinema Campineiro, foi curadora da programação de filmes da Bienal de São Paulo de 2025. É membra fundadora e integrante da atual diretoria da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual (ABPA).